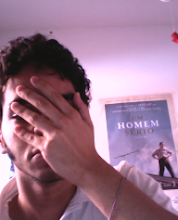Christopher Nolan (O grande truque) traz uma filmografia com blockbusters de traço peculiar. Sua obra representa a possibilidade da constante reinvenção do gênero, assim como sua sobrevivência. Como Spielberg, Lucas, Scorcese já fizeram, Nolan tem seu momento de afirmar para o mundo que o blockbuster é o gênero mais norte-americano e não é necessariamente menos inteligente que um drama europeu.
Don Cobb (Leonardo DiCaprio) é um ladrão de segredos. Penetra a mente de suas vítimas via sonhos e consegue informações que comprometem ações empresariais e muito capital. É foragido pela acusação de ter matado sua esposa Mal (Marion Cotillard). Está impedido de voltar para os Estados Unidos. Tem que manter a distância dos filhos, cuja memória que guarda é de estarem brincando num jardim, de costas para ele. A ação de tal memória se completaria quando pudesse ver o rosto do filhos. Sonha em terminar esse comercial de margarina com filhos loirinhos e perfeitos.
Voltar para os filhos se torna algo mais próximo de Cobb quando recebe a ousada proposta de Saito (Ken Watanabe). Sua missão quase impossível é invadir a mente de Richard Fischer (Cillian Murphy), herdeiro de um império econômico, e implantar uma ideia que o faça desmembrar tal império. Para isso, conta com uma equipe competente, mas luta contra a memória de Mal, uma sombra da verdadeira Mal, que é a vilã.
O filme aposta numa estética bonita e publicitária para os sonhos. Mas a densidade disso não se resume à beleza de efeitos e cenários. Em A Cela, por exemplo, os figurinos e direção de arte exuberantes soam meramente como exibicionismo, não tendo função direta para o resultado da trama ou dimensão dos sonhos. A Origem (Inception, EUA, 2020 - 2 h 28 min) investe num visual rigoroso, mas mostra que os sonhos são como os que temos, com problemas de continuidade da realidade, etc.
A estudante de arquitetura Ariadne (Ellen Page) cria os cenários onde acontecerão os sonhos. Seu processo criativo é rápido. As coisas vem quase sempre prontas na sua cabeça. Vemos na tela uma representação do que é a inspiração. Ela mistura referências e cria coisas inéditas e é chamada a atenção por Cobb para nunca repetir completamente coisas que já foram feitas.
Nos momentos de "invasão onírica" mais significativas do filme, a sequência inicial e o ato final, a realidade se devenvolve em ambientes de viagem. No início do filme acontece num trem e no final em um avião. A realidade é um ambiente de transição, instável como (ou mais) que os sonhos. É dito por um personagem durante o filme "eles não vem aqui para sonhar, mas para acordar. Pois, se passam a maior parte do tempo nos sonhos, essa já é uma realidade mais próxima do que a própria realidade".
Nolan assina também o roteiro. Estabelece tramas se cruzando quase sempre. Intensifica o clima de ação. Já é traço claro nele lançar frases simples no início da trama para mais tarde enaltecê-las repetindo em cena chave. Assim como mitificar objetos aparentemente banais (como o pião que gira sem nunca cair que Cobb usa para inserir uma ideia na mente de Mal). Repetir as frases como faz, pode ser uma tentativa de torná-la memorável ou dizer que os detalhes no filme são supostamente mais importantes do que aparentavam. Muitas vezes soa bobo. A edição ressalta a complexidade da colcha de retalhos que estão costurando. Planos e cenas são curtos e as sequências estão sempre cruzadas. As sequências se amarram claramente pela trilha sonora (por ora barulhenta) de Hans Zimmer. A maneira como utiliza tal recurso remete a Ridley Scott. Quando o filme se volta para os dramas familiares (a de Cobb e sua esposa e dos Fischer), há respiro maior entre as cenas. A história se explica e o espectador se sente inteligente. Primeiramente temos a riqueza da polissemia, mais tarde temos uma série de flashbacks didáticos (esse é o segredo do sucesso comercial de Nolan: fazer o público se sentir inteligente e, mais tarde, acabar contando tudo para eles). O drama dos Fischer é pseudo-profundo. Não passa de algo aparente e uma tentativa de inserir um personagem cujo passado de criança melancólica e carente o afugenta.
Por fim, tiro minha roupagem cética e crítica para uma impressão que tive muito por acaso. Se outros a tiveram, também foi bem por acaso. Quando é o momento de sair do sonho, combinam que o sinal é tocar Non Je Ne Regrette Rien, da Piaf. A letra fala, resumidamente, de não se arrepender, de esquecer e começar do zero (Ha!). Nunca contei, mas posso apostar que essa é a música mais usada em filmes. E olha que nem deve ser de domínio público. No primeiro momento em que começa a tocar e já havia entrado em cena Marion Cotillard, inevitavelmente acabei associando as coisas. Marion se consagra como atriz internacional ao encarnar Piaf em Piaf - um hino ao amor. Sua atuação é tão perfeita que estará eternamente marcada pela personagem. Quando toca Piaf no filme, para mim, quem canta é Mal. Isso é um problema de interpretação chamado extrapolação. Mas Barthes está do meu lado ao dar à interpretação o infinito de possibilidades. Abaixo, a cena de Piaf em que é cantada Non Je Ne Regrette Rien.