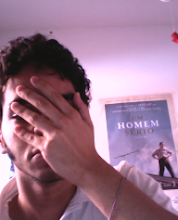segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
O Rio
Entre novembro e dezembro a mostra "Tsai Ming-Liang: O homem do tempo" passa pelos CCBB São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Me incomodava "o homem do tempo" por achar demasiado genérico para descrever arte, em que o tempo é uma das matérias primas mais recorrentes. Mas acentuar "o tempo" como relevante a ser observado na obra do cineasta de Taiwan é realmente pertinente. As escolhas feitas por Tsai Ming-Liang para contar suas histórias tornam o tempo o responsável pelas ações e as "não ações". Essa dimensão é ressaltada por em seus vinte anos de carreira e nove longa-metragens, de alguma forma, ter o mesmo protagonista e interpretado pelo mesmo ator.
Com obra em diversos aspectos referenciar a Nouvelle Vague francesa de quarenta anos atrás, o curioso uso do protagonista é homenagem a Fraçois Truffault. O francês tem como grande marca ser autobiográfico. Tsai usa Xiao-Kang para dar forma ao que no cinema de Truffault fazia Jean-Piere Léaud, que protagonizou Os Incompreendidos, A Noite Americana, entre outros. Compondo o que se apelidou "segunda Nouvelle Vague de Tawian", Tsai exercita sua autoria e tem a originalidade de sua obra bastante consolidada. O tempo é totalmente dilatado, esticado ao máximo. Para isso, não é a decupagem com planos de curta duração que ressaltem várias perspectivas das ações que Liang atinge o efeito. É justamente pelo contrário: planos que duram muito mais que precisariam para abordar todas as informações (aparentemente) nele contidas. O tempo é muito maior que a trama, muito maior que as personagens. O tempo engole as personagens.
O Rio (He Liu, Taiwan,1997 - 1 h 55 min) é o sexto longa de Tsai e já é trem em movimento para a história de Lee-Kang-Sheng (Xiao-Kang). Mas esse movimento do trem não impede que a viagem seja vista em diferentes momentos do percurso. Todos os longas de Tsai, apesar de trazerem sempre protagonista e cenários que, a princípio, são os mesmo, tem coesão que os tornam obras independentes, mesmo que início e final sejam abertos (o que acontece por outro motivo). E olhar o trem faz pensar que este está parado. Não é à vapor que ele se movimenta - movimento que também não é direcional. Muita coisa acontece nos vagões e nas engrenagens. O Rio abusa do tempo morto para mostrar o que não é concreto. A atmosfera que se compõe incessantemente. Diversos elementos compõe esse nada de uma câmera quase parada filmando quase nada (aparentemente). A saturação que acontece quase se leva tudo em consideração paralisa a narrativa num limbo. Lee cruza com uma (ao que aparenta) ex-namorada numa escada rolante no primeiro plano do filme. O plano simétrico frontal em que de um lado sobe Lee por uma escada e do outro desce a moça, que percebe o rapaz e vai ao encontro dele é o único momento em a vida aparentemente era certa para as personagens. Nossa sensibilidade absorve tudo que nos cerca involuntariamente, motivo que em diversas ocasiões estamos tristes ou felizes sem saber porque. A atmosfera de O Rio absorveu esse acaso para adoecer a vida das personagens. Enfim, uma interferência que tirou o rio do fluxo normal.
Os problemas maiores na vida de Lee começam com um acidente simples de moto que gerou um torcicolo em seu pescoço. A personagem perde completamente o controle da dor que sente e dos movimentos do pescoço. Não ter tomado medidas a tempo aumentam a proporção de seu problema. Lee não dá sorte na busca de um profissional que possa atendê-lo. Para algo aparentemente simples, tratando-se de medicina, diagnosticam Lee de possesso por maus agouros e outras coisas de tal natureza. Os problemas nunca são resolvidos e a narrativa se toma as proporções de uma polifonia dissonante. Os pontos nunca fechados tornam a atmosfera cada vez mais densa e angustiante.
Os longuíssimos planos de Tsai são ricos de informação com o requintado uso da profundidade de campo e do extra-campo. Filmando normalmente em apartamentos ou na casa da família de Lee, Tsai explora os cômodos distantes, para além das portas abertas. Os personagens se deslocam na frente da câmera parada. Saem de campo, ficam no extra-campo por um bom tempo, sem pressa de voltar e, enfim voltam.
Final e início aberto, retomando, são consequencias também do tempo. Tsai faz precisos recortes da vida de suas personagens. Mas esse recorte torna mínima a participação da edição. O objetivo não é necessariamente construir algo que ressalte os aspectos mais interessantes - como na narrativa da ação/reação. O tempo real é o grande valor de Tsai. Esse recorte reconhece que uma vida não começa e nem acaba em duas horas. Por isso o não início e o não final. Tsai é "essencialista", como o comer, beber, tomar banho, fazer sexo, etc. que tanto traz para o seu cinema.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
20:38
0
comentários
Marcadores:
Cinema
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
A rede social
Convencinou-se usar o verbo "navegar" para designar o ato de usar a internet, o ir de página a página, link a link. A não ser que que essa navegação seja em auto mar e numa tempestade, o termo soa muito humilde para o que é o fluxo de informações na rede. Diante de vários caminhos, podemos entrar por todos. Nos fatiamos em vários, divimos nossa atenção ao mesmo tempo em diversas páginas. Colhemos algumas palavras aqui, uma imagem alí e montamos nosso texto, nosso hipertexto. Bem raso se analisando o que eram os textos originais, mas tão denso quanto o novo texto que agora constitui. Assim funciona o mais recente longa de David Fincher (Clube da Luta), que com carreira carregada de vitalidade, após lançar o comum Benjamin Button, tem a regularidade de sua autoria retomada com A Rede Social (The Social Network, EUA, 2010 - 2 h 1 min).
Baseado no polêmico e homônimo livro Ben Mezrich, que revela os bastidores conturbados do surgimento do maior site de... rede social da internet, o Facebook, o filme investe na mesma trama, enriquecendo-a com minuciosidade no tratamento dos personagens e narrativa. Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) é um programador genial que se sente sufocado por Harvard e seu excesso de tradições. Após ser dispensado pela namorada, irritado e bêbado, Mark raqueia páginas de várias garotas da faculdade, baixando suas fotos. Monta uma página de enquete sobre a mais gostosa da Universidade e, numa madrugada, consegue saturar os servidores de Harvard com acessos. O talento agora era público. Mark é convidado por gêmeos ricos para montar o que mais tarde resolveu fazer sozinho, o Facebook. De fato Mark não é exposto no longa como alguém que roubou uma ideia. Ele apenas escolheu entre ser um funcionário e ser o patrão. As grandes ideias vieram realmente dele. Externalizando a criatividade de Mark, em uma cena um colega pergunta ao protagonista se sua ex-namorada está procurando alguém. Surge aí um dos recursos pioneiros do facebook, o status social, não se restringindo a solteiro e casado, mas "à procura", etc.
Os anos decisivos de Mark, aqueles que o tornaram o mais jovem bilionário do mundo, são contados por Fincher numa estrutura que lembra um grandioso portal de internet. Temos várias categorias de assuntos, várias e várias páginas. Perder-se é muito fácil, mas é um risco que todos se dispõe a correr, pois sabem onde está a página home, onde sempre podem voltar e começar de novo. A home de Rede Social são os dois julgamentos dos dois processos que Mark sofre. Um seria baseado na acusação de ter roubado a ideia de construir o Facebook dos gêmeos e a outra é de ter excluído Eduardo Saverin (Andrew Garfield), destacado no filme como o verdadeiro amigo de Mark no meio a vários oportunistas, do expediente de fundação do Facebook e demais prejuízos financeiros que isso acarreta. A medida que argumentos, frustrações, etc. são colocados em pauta no julgamento, o filme sai da home page para a página da qual agora trata, indo e vindo, desconstruindo a linearidade do tempo.
Mark é o filme. Personagem complexo com universo excêntrico. As vezes de caracterização caricatural, Mark pressiona o lábio inferior como quem ainda não se acostumou a viver sem a chupeta e fala bastante acelerado, como que com uma só voz não fosse possível emitir tudo que ele precisa naquela fração de tempo. Tudo isso reforça o quão controverso é Mark que, como o bom gênio, tem a complexidade de mentes experientes num comportamento e curiosidade infantil.
Rede Social é um filme de closes e planos curtos. Não poderia ser contemplativo um filme sobre a geração que aborda e tal universo. Os closes e o ritmo propiciado por isso e a duração dos planos ressalta a adrenalina do hipertexto.
Com muito mais foco para o roteiro verborrágico, A Rede Social tem fotografia sutil mas de escolhas estéticas significativas. O foco é bastante trabalhado, mas, diferente do que normalmente se faz, não é o foco que se desloca para um novo campo focal, mas os personagens que entram no foco. O desfocado é denso, quase um fluído. Entrar em foco é chegar à superfície. E o campo focal é bastante reduzido, mantendo apenas dois níveis possíveis de realidade, um primeiro e segundo plano, descartando gradações entre eles.
A Rede Social é um recorte temporal muito preciso na vida de um personagem verídico (ao menos até onde ele não é ficcionalizado). O roteiro é uma adaptação perfeita, primeiramente da literatura e depois da realidade. As motivações da personagem, mesmo que reais, perfeitas no mundo da ficção são o que tornam a obra tão legítima. Mark começar tudo por vingança da ex-namorada é o primeiro dos vários argumentos que justificam a tamanha inspiração para a criação do Facebook. Argumento não necessariamente tirados da história real, mas que fazem o filme funcionar.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
18:33
0
comentários
Marcadores:
Cinema
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Gil Elvgren
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
09:20
0
comentários
Marcadores:
Design
segunda-feira, 29 de novembro de 2010
O mundo imaginário do Doutor Parnassus
A Fantasia seria o gênero narrativo em que o autor cria um mundo paralelo àquele que convencionamos com real, considerando a existência desse em sua história ou não. Na fantasia novas regras devem ser criadas para a Física, Química, Matemática, Linguística, percepções e demais relações dos seres com seu ambiente e do ambiente com o sistema como um todo. A credibilidade do mundo criado depende essencialmente do rigor que o autor se impõe para não quebrar as regras que criou. Seu público percebe e se incomoda imediatamente quando essa proposta não é cumprida, tornando a trama incoerente. Sim! A fantasia é realista enquanto considera o seu mundo como o real. As coisas acontecem como são - desde que seja assim que acontece no tal mundo.
Já no Fantástico é diferente. Seria algo próximo de um casamento do Surreal com a Fantasia. Regras frágeis aparentemente existem mas são rapidamente quebradas para uma livre associação de ideias. Não há a preocupação com uma "nova legislação" ou demais leis críveis do novo ambiente. O objetivo aqui é o lunático. Jamais o compromisso com a criação de uma nova realidade. Nada pode ser contínuo, equivalente. A incoerência manda. Aparentemente um campo mais seguro para ser trabalhado, já que, aparentemente, não se tem um rigor quanto às regras estabelecidas e, já que a associação dos elementos é livre, pode ser feita como um brainstorm. Mas não. Talvez não seja tão simples alcançar o resultado esperado para o "bom" Fantástico. E é nesse segundo gênero que se encaixa O mundo imaginário do Doutor Parnassus (The Imaginarium of Dr. Parnassus, Inglaterra, 2009 - 2 h 2 min), mais recente filme de Terry Gilliam (Brazil, o Filme).
Parnassus (Christopher Plummer) tem mais de mil anos e tem o dom de levar as pessoas às maravilhas de seu inconsciente através de um espelho falso. Parnassus, para conquistar a imortalidade, acordou com o Diabo (Tom Waits) que lhe entregaria sua filha assim que ela completasse 16 anos. Parnassus só não contava que fosse se apaixonar e realmente acabasse tendo um filha, Valentine (Lily Cole). Às vésperas do décimo sexto aniversário da jovem, Parnassus, junto com sua equipe que compôe a companhia de circo itinerante - Valentine, Anton (Andrew Garfield), Percy (Verne Troyer) e, de última hora, Tony (Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrel) -, que está a beira do fracasso, devem conseguir algumas almas a serem trocadas pela de Valentine.
Gilliam é infeliz ao construir nos sonhos um universo raso. É multicolorido, com direção de arte impecável, mistura técnicas digitais com plásticas, gerando um resultado único, porém, raso. Os clientes de Parnassus atravessam o espelho para se entregarem à realização de seus desejos. Nada mais conveniente que uma dondoca enxergar sapatos caros gigantescos, uma criança entrar num parque de diversões, etc. É fácil e óbvio.
Visualmente perfeito, O mundo Imaginário investe na direção de arte, figurino e fotografia. A companhia de teatro de Parnassus se assume com visual romântico. Vestes sofisticadas e trabalhadas como no século XVIII. As primeiras imagens do filme nos mostram apenas o grupo de teatro, nos induzindo a ver o filme primeiramente como de época. Quando a câmera se distancia e mostra o palco em ambiente contemporâneo, numa Europa moderna, vemos o quão particular é o universo daquele grupo de teatro. Vivem um mundo restrito em que Valentine sonha lendo sua revista "Lar ideal", que mostra famílias de comercial de margarina, famílias normais (tema explorado de maneira piegas em alguns momentos da obra).
A morte de Ledger no meio das gravações gerou uma das soluções mais criativas e, finalmente, verdadeiramente do Fantástico. Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrel se revesam no papel de Tony quando este entra em diferentes momentos no espelho de Parnassus. Como nos sonhos, quando olhamos para um personagem em momentos diferentes e ele assume outro aspecto, Tony muda de intérprete. Gera o esperado efeito lunático do Fantástico.
O mundo imaginário do Doutor Parnassus se pretende Fantástico e usa recursos ilustrativos de significante nada subjetivo. Cai em diversas vezes na estética publicitária e ainda sofre com um roteiro que nunca engrena. Mas não é de todo perdido. Há momentos realmente bons, de humor fino, ao melhor que o diretor de Monty Python em busca do cálice sagrado já produziu. O filme tem seu valor, ainda que menor, na filmografia de Terry Gilliam.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
10:43
2
comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 28 de novembro de 2010
Drew Struzan
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
15:54
0
comentários
domingo, 14 de novembro de 2010
E o vento levou
Victor Fleming é creditado como diretor de E o Vento Levou (Gone with the wind, EUA, 1939 - 3 h 53 min), filme mais assistido nos cinemas de todos os tempos. Não só é creditado como levou o Oscar por isso. Mas vale ressaltar que o grande por trás da obra é o produtor David O. Selnick, responsável pelas ideias mais importantes e também pela edição. Foi dele o papel de manter coeso (ou tentar) um filme dirigido por George Cukor, Victor Fleming (que dirigiu menos da metade do longa), Sam Wood e William Cameron Menzies (que levou um Oscar honorário).
Não é estranho que o filme de maior sucesso de público seja um melodrama, gênero que abusa de recursos de apelo universal para abordar maior público. Busca-se estabelecer empatia com o maior número de pessoas. E o Vento Levou é muito bem sucedido quanto as suas estratégias comerciais. Trás personagens femininos e masculinos marcantes e em suas quase 4 horas de duração todos os arquétipos possíveis (em sua maioria, carismáticos) já contracenaram com Scarlett e Rett.
Fugindo, aparentemente, dos estereótipos do malvado e bonzinho para a trama principal (que é o dilema amoroso de Scarlett O’hara), Vento Levou concentra a dicotomia entre bem e mal na Guerra de Secessão. O bem estaria para os sulistas, que é o ponto de vista dos personagens. Eles quem passam fome, morrem, perdem a dignidade, e outras mazelas acontecem por conta da maldade dos nortistas – segundo o filme.
Com a guerra como background e várias camadas, em todos os níveis, de conflitos amorosos e familiares, E o Vento Levou constrói a atmosfera para todo o exagero sentimental que o caracteriza. Os personagens, dentro desse universo, estão sujeitos às diversas armadilhas do destino. A guerra por si só já eleva as desgraças da trama ao limite. Mortes, fome, destruição. E a guerra também refletirá na estabilidade de instituições, como a família. É com a desestruturação de sua família refletida pela guerra que Scarlett (Vivien Leigh) se envolverá em outros problemas e também terá sua visão de mundo alterada.
Muitas obras melodramáticas pecam quanto seus objetivos. Querem lucrar e abordar o maior público. Para isso, o recurso mais eficiente são os personagens. O comum do melodrama já foi explorar o personagem que é absolutamente mal e o absolutamente bom. Mas não há empatia se na verdade não é assim que acontece na vida real. E O Vento Levou acerta nisso ao entregar para personagens secundários o papel de bonzinhos ou mauzinhos. Os protagonistas são anti-heróis. Eles tem defeitos, flutuam entre o bom e o mal caráter e, acima de tudo, são carismáticos.
Não muito distante de uma Ópera, E o Vento Levou ainda preserva o Overture e Interlúdio. Recursos que não sobrevivem no cinema, por serem muito mais adequados para eventos “não-projetáveis”, como os que acontecem num teatro. E é da ópera que o filme tira muitas características.
Feliz é a elite sulista. Ostentam riqueza e sua vaidade faz que as ruas sejam desfiles de moda e as casas sejam as mais luxuosas. Scarlett é uma adolescente cobiçada por todos os rapazes, para inveja das outras da sua idade. Mas Scarlett só tem olhos para Ashley (Leslie Howard). O equilíbrio de Scarlett é rompido quando Ashley declara que vai se casar com outra. O equilíbrio do filme também é quebrado e, partindo para uma macroestrutura, eclode a Guerra de Secessão. O conflito do filme não é algo que acontece apenas na vida da protagonista, com a Guerra, o caos é generalizado.
Scarlett é movida por seu orgulho a não desistir de Ashley. Para provocá-lo, se casa com seu irmão, que morre na guerra. O’Hara desenvolve os planos mais absurdos para tentar recuperar seu amor, enquanto Sul e Norte lutam, com vantagem para o Norte.
Surge Rett (Clark Gable) na vida de Scarlett, mas este não apaga Ashley da mente dela.
Com diversas oportunidades desperdiçadas para a verdadeira felicidade, justamente por estar cega pela sua vontade compulsiva de ser a esposa de Ashley, O’Hara espalha desequilíbrio para vidas alheias. Casa-se com o grande amor de uma de suas irmãs por dinheiro. Viúva duas vezes. Ignora o amor de Rett, magoa-o.
Quando Scarlett se dá conta de que ama Rett e que Ashley seria um capricho, que é justamente quando amadurece, já havia atropelado tanto Rett que este também não a quer mais. Scarlett termina sozinha, colhendo o que plantou. Mas o filme não é pessimista por a personagem mostrar que tem toda a energia para correr atrás e consertar alguns de seus erros.
Não é mérito tão grande do filme ele durar quatro horas e não ter maiores problemas de ritmo e narrativa, já que é tudo muito simples. A história é linear e não há ousadia em sua maneira de narrar. São escolhas fáceis.
Um dos primeiros longas totalmente colorido, E o Vento Levou já explora bastante a nova linguagem. O plano de O’Hara prometendo para si mesma nunca mais passar fome no final da primeira parte não seria ontológico sem os diversos tons alaranjados e vermelhos conseguidos no belo pôr-do-sol filmado. E esse é um plano geral, tipo de plano bastante explorado no filme.
O plano geral reforça a paisagem e a megalomania dos cenários. Em E o Vento levou destacam-se ainda os planos dos vários enfermos da guerra deitados no chão e a pequena carruagem com O’Hara e outros fugindo de um bombardeio e um galpão gigantesco pega fogo. Esse galpão é parte dos cenários de King Kong.
A trilha sonora é de Max Steiner, considerado o pai da música incidental cinematográfica. A trilha de cinema na década de 1930 ainda não era completamente legítima do cinema. Muito herdava da ópera e do incidentalismo do teatro. Era uma música grandiloquente, diferente de esforços do cinema contemporâneo em fazê-la diversas vezes invisível. Mas essa dimensão da música também era destacada no melodrama. Rousseau define o melodrama (da ópera) como um procedimento onde a fala e a música, em vez de andarem juntas se alternam, quando uma frase musical anuncia e prepara a frase falada. Se a declaração de Rousseau fosse feita para o melodrama do cinema, também estaria coerente.
Assim como a música do cinema, atuações ainda estavam longe de tempos de Marlon Brando. As atuações são exageradas, como se os atores estivessem num palco. Não se pensava no naturalismo para câmera.
Longe de obra-prima, E o vento levou permanece como incógnita. O que seria tão atrativo na obra de maior público de todos os tempos? Aqui não achamos a resposta, mas muitas premissas foram incentivadas para reflexão.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
17:59
1 comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 7 de novembro de 2010
La Teta Asustada

Aqui não vamos nos referir a esse filme como "O leite da amargura", pois é uma adaptação brasileira muito nonsense do título de La Teta Asustada (Idem, Peru, 2009 - 1 h 35 min). O título original se refere a um elemento, uma temática do filme, que de alguma forma rodeia todas as (várias) outras. Se um filme recebe o título "Forrest Gump" e é esse o nome do protagonista, provavelmente esse título foi escolhido assim para demonstrar que na obra a constituição desse personagem é um dos aspectos mais relevantes. O que, consequentemente, quer dizer que é imbecil aquele que acrescentou "O contador de histórias", na versão do título aqui no Brasil. La teta asustada é apenas o nome de uma pseudo doença que a protagonista carrega e que, por ser pseudo, gera várias situações verdadeiramente desconfortáveis. Porque os peruanos tem direito a um título inteligente e aqui os destribuidores duvidaram de nossa capacidade?
Então... sobre o filme.
Fausta (Magaly Solier) acredita sofrer da doença Teta asustada, que seria transmitida pelo medo e sofrimento da mãe no momento da amamentação. A mãe de Fausta teria sido estuprada por terroristas na década de 80, momento político difícil no Peru. Teta asustada não passa de uma resposta folclórica/mitológica para doenças que provavelmente tem significado científico. Um médico tenta orientar Fausta para o que realmente sofre (seu nariz sangra quando perde o controle de uma situação ou sente medo), mas a fidelidade às crenças do povo peruano, ainda de tradição bastante indígena, a impede de ouvir ao médico. Com medo de ser estuprada, Fausta insere uma batata na vagina, o que gera outro problema - a batata "germina".
O último pedido da mãe de Fausta antes de morrer foi ser enterrada em sua cidade natal. Agora a missão de Fausta é conseguir o dinheiro necessário para a viagem. Fausta, bastante tímida e introspectiva, terá que se expor ao mundo e tomar decisões sozinha para juntar o dinheiro.
A introspecção de Fausta é o que há de mais recorrente no filme. A construção da personagem recebeu uma atenção maior. Sozinha no mundo, ainda mais agora sem a mãe, Fausta não fala muto nem se envolve com outras pessoas a não ser que precise. Para fugir de nosso mundo, o qual ela aparentemente o tempo todo demonstra não estar a vontade, Fausta canta (em quechua - idioma indígena). Compõe as belas melodias enquanto quanta. Um jazz peruano (péssima piada).
Fausta não age muito, é passiva. Segue quase sempre o fluxo das situações. Assim ela acaba se envolvendo em problemas que não precisaria. Seu estado quase sempre é de imobilidade, medo. Prefere não se arriscar e correr o risco de piorar as coisas.
Os movimentos de Fausta para mudar o que a aflinge são mínimos e minimalista é a estética adotada pela diretora Claudia Llosa para representar o universo de sua protagonista. Sem iluminação especial, aproveitando o melhor da luz natural, La Teta Asustada é filmado com baixa saturação de cores. Atinge assim uma frieza para as imagens equivalente ao distanciamento da personagem para a realidade. A decupagem dos planos é meticulosa. Sutilezas são buscadas através de muitos planos de detalhe.
La Teta Asustada é simples. É resultado de escolhas aparentemente pequenas, mas extremamente simbólicas para o resultado final. É uma narrativa sobre nosso tempo e sobre a Fausta que há dentro de nós, viva e cheia de medo.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
12:32
0
comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 31 de outubro de 2010
Autumn Whitehurst
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
08:42
0
comentários
Marcadores:
Design
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Tropa de Elite 2
 É com flashes de cenas do primeiro filme misturados aos créditos que começa Tropa de Elite 2 (Brasil, 2010, 1 h 56 min). A lembrança de sucesso da primeira franquia serve para aquecer o público sedento para ver agora muito do que viu em 2007, quando Padilha surgiu para o mundo com sua distribuição excêntrica "acidental" de Tropa de Elite, através de uma suposta cópia vazada do filme ainda não concluído.
É com flashes de cenas do primeiro filme misturados aos créditos que começa Tropa de Elite 2 (Brasil, 2010, 1 h 56 min). A lembrança de sucesso da primeira franquia serve para aquecer o público sedento para ver agora muito do que viu em 2007, quando Padilha surgiu para o mundo com sua distribuição excêntrica "acidental" de Tropa de Elite, através de uma suposta cópia vazada do filme ainda não concluído.Tropa de Elite parou o país em 2007 e jargões sobreviveram durante muito tempo na boca de pessoas de todas as idades. "Pede pra sair" e outras expressões do Capitão Nascimento (Wagner Moura) estão também no segundo filme, marcando Wagner Moura para sempre com o personagem caricato.
Não se mexe (muito) em time que está ganhando. É assim que fazem aqui - repetem os personagens, jargões, violência e estrutura. Tropa de Elite 2 também começa com uma cena do final interrompida em momento dramático, quando a plateia está com o coração na boca. Dessa cena somos cortados para alguns anos antes. Então começa a parte chata. O primeiro sinal é o "blá blá O sistema blá" da narração em off do capitão nascimento. O filme vai e volta, fade in, fade out, fusão e o Capitão Nascimento não cala a boca. É a voz de Deus. Como um documentário precário que só acontece na edição e, para compensar a falta de criatividade, amarram tudo com uma narração em off.
O Capitão Nascimento narra o que está em cena e o que não está. Comenta, debate, anuncia e expõe suas ideias. Discute o filme. Quase um programa de televisão, onde normalmente não se deixa o espaço para que o espectador complete a obra com sua interpretação. Tropa já veio mastigado.
Mas Tropa precisa desse narrador pra costurar a narrativa? Não. Há um grande diretor e um grande roteirista por trás. Eles sabem bem como criar uma narrativa sólida. Bráulio Montovani fez isso muito bem nos roteiros de Cidade de Deus e Linha de Passe e igualmente para Padilha em Ônibus 174. O truque é um artifício para deixar o filme mais evento do que é. Tropa de Elite é feito para esse momento, para a bilheteria. Não sobreviverá ao tempo. O filme deixa o público de queixo caído pelo impacto das cenas (violentas). Esse impacto só vale para a primeira vez que é visto, enquanto é surpresa. Em um segundo momento, quando já sabemos que não seremos surpreendidos, qualquer um pode enxergar o filme por detrás dessa fachada de sangue.
Muitas cenas e sequências são anexos que não acrescentam na história. Um roteiro ainda em brainstorm. "Padilha! Já pensou colocarmos uma cena com defuntos queimados?", fala Montovani - "Ótimo! Que tal uma jornalista curiosa querendo a capa do jornal e seu fotógrafo medroso?" - responde Padilha muito contente. Assim nasce uma sequência violenta.
A narração em off também é recurso para um outro grande propósito do filme, levantar bandeirinha. A narração está justamente ocupando os espaços que deveriam ser o silêncio, a reflexão. Acusar a hipocrisia social e deficiências políticas do país em vários momentos é nobre, já em outros (vários) nem tanto. Levantar bandeira não é saudável tratando-se de arte. É perigoso e o poder de subversão é grande. No filme, ideias generalizante e superficiais como a Academia ser composta de almofadinhas e bandido bom é bandido morto são algumas das defendidas. O pragmatismo extremo é pregado. Mas lidar com humanos não é algo tão pragmático como chegar a resultados matemáticos, como gostaria o Capitão Nascimento. O papel do BOPE no final das contas parece sempre estar cortando unhas sociais. E unhas crescem novamente.
O visual do filme é mais interessante. A fotografia demonstra um desleixo inicial na fase de gravação. Algo proposital. Luz estouranda e cores erradas. Esses "defeitos" no momento de gravação receberam tratamento em pós produção, cujo resultado é um rebuscado bem finalizado. A estética do documentário (fotografia desleixada) somada à finalização de longa de ficção. Nos momentos em que o Capitão Nascimento se encontra com a ex-mulher, supercloses com uma câmera nervosa são usados e o background é completamente desfocado. O que também é interessante.
Outro mérito é a caracterização de personagens. Muitos aí são memoráveis. Além do Capitão Nascimento, vindo do primeiro filme, agora também temos Deputado Fortunato (André Mattos), em uma clara homenagem ao "jornalista" Datena. Mitificar personagens assim é recurso dos filmes de máfia de Hollywood. Esse glamour aos personagens não é dado à violência - outro ponto! Na vida real, o bandido não segura a vítima 10 minutos para a polícia chegar, vencer e sobrar a mensagem "o crime não compensa", como fazem os americanos. Se a intenção é matar, que seja de uma vez.
Tropa de Elite é um filme evento, cujo potencial de muitos profissionais talentosos envolvidos foi colocado em segundo plano para uma certeza de sucesso. O comercial não é sinônimo de ruim, mas há muito mais áreas comerciais cuja garantia de sucesso compromete a qualidade do filme. Foi aí que preferiram explorar. Por fim, a pedância do discurso construído no novo longa de Padilha faz concluir que se Michael Moore tivesse feito um longa de ficção, provavelmente teria sido Tropa de Elite 2.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
20:59
1 comentários
Marcadores:
Cinema
sábado, 16 de outubro de 2010
De olhos bem fechados
Antes de morrer, Stanley Kubrick (Doutor Fantástico) é nosso guia por uma viagem pelas ruas de Nova York. O meio de transporte é seu olhar peculiar sobre a cidade e seus personagens excêntricos. É com um curioso jogo de luzes e sombras (mais sombras que luzes) que Kubrick sai do nosso mundo e juntar-se às estrelas (morre). Esse jogo é De olhos bem fechados (Eyes wide shut, EUA, 1999 - 2 h 39 min).
Bill (Tom Cruise), um médico, e Alice (Nicole Kidman), escultora e curadora, formam um casal de classe média alta bem instruído e de estabilidade aparentemente invejável. Ao irem a uma festa de um amigo, Victor (Sydney Pollack), se envolvem em situações que desperta neles conflitos que já existiam, mas precisavam de um motivo para entrar no campo da percepção.
Bill é acompanhado durante a festa por duas modelos que fazem questão de deixar claro o interesse delas no médico. O diálogo quente, com flertes nada inocentes, é interrompido quando Bill tem que atender alguém na mansão que está passando mal. Sem ser deixada para trás, Alice dança durante toda a noite com um húngaro, cuja intenção, que não esconde em momento algum, é levar Alice para a cama. Aparentemente se fazendo de difícil, Alice recusa as insistências alegando ser casada.
Alice, Bill e seus acompanhantes na festa já estão alterados pelo álcool. A mundança química aparentemente torna os personagens muito mais afiados na dialética. O raciocínio deles é um fluxo incessante. Assunto algum merece o respeito de ser mantido. A cada possível insinuação ou declaração ambígua, um personagem é retrucado e desafiado. Os diálogos, portanto, como diz a dialética, caminham para o infinito.
As cenas duram o bastante para os personagens se cansarem. Refletindo esse cansaço para o público, Kubrick usa poucos planos, de preferência bem longos. Mais que cansado, o público fica ansioso e desconfortável. A sequência da festa dura quase ela toda. Sabemos quando o tempo é elipsado quando é ressaltado com fusão de planos. A fusão, aparentemente abusiva e excessivamente didática, é mais um recurso para gerar desconforto no público.
A festa acaba e Bill e Alice não consumam seus flertes. Em outro momento, depois de alguns baseados, começam a discutir a relação a partir das antíteses atiradas por Alice às teses de Bill, que jura ser fiel à esposa por amá-la. A síntese parece inalcançável. Alice se ofende por Bill falar que homens se aproximariam dela primeiramente por ser muito bonita. Com o aquecimento da discussão, Alice confessa que teria abandonado Bill e a filha por uma paixão repentina que tivera por um marinheiro. A imagem de Alice com o tal marinheiro o consumirá pelos próximos dois dias, com flashes repentinos.
Bill começa um tour pelas ruas de Nova York a partir de uma visita à casa de um paciente que morreu. A filha do paciente revela estar apaixonada por ele. Bill vaga pela cidade e não consegue transar com uma prostituta ao ter que se apressar a voltar para casa, pois Alice telefona para ele. Encontra um amigo pianista que conta para ele sobre um baile de máscaras misterioso onde tem tocado. Bill anota o endereço e sai atrás da fantasia no início da madrugada, quando as lojas estão fechadas. A partir daí o nível dos fatores é cada vez mais bizarro e surreal, revelando o que há de mais estranho na madrugada de uma cidade ou da perturbada mente de Bill.
As cenas longas, com foco nas atuações (excelentes) e mise en scène, aparentemente um teatro filmado, mostram-se a escolha ideal para tornar a passagem do tempo algo doloroso para a plateia, refletindo o que os personagens sentem. A angústia de um casal que cria para si diversas pseudo-crise que se resolveria com o fim da verdadeira crise, a sexual.
Ambientado em período natalido, vermelho e amarelo predominam. Em contraponto, há sempre uma janela, ou outro emissor de luz, irradiando um azul claro vibrante. O curioso é que essa luz não é nada natural, já que a maioria das cenas é noturna e em ambiente interno. O contraste berrante entre o amarelo alaranjado e o azul, somado ao ambiente interno normalmente lotado de elementos de cena e a composição dos planos já citada, ressalta a ansiedade dos personagens, transferida para o público, além de tornar a atmosfera soturna.
A combinação dos diversos elementos, que beat a beat tiram a história do trilho e despistam o raciocínio de espectador para o que aparentemente ele espera da resolução, tornam a obra um sopro de vitalidade para a filmografia de Kubrick que se encerra aí. O filme passeia por gêneros e estruturas. Quando pensamos que temos que focar nosso raciocínio para desvendar os mistérios de rituais sexuais estranhos praticados por milionários numa mansão, somos trazidos novamente para o drama familiar protagonizado por Kidman e Cruise. E delas somos retirados para pensar se tudo não teria sido loucura, sonho. Os limites da realidade são questionados. A síntese que temos é... sem mais spoiler.
Bill (Tom Cruise), um médico, e Alice (Nicole Kidman), escultora e curadora, formam um casal de classe média alta bem instruído e de estabilidade aparentemente invejável. Ao irem a uma festa de um amigo, Victor (Sydney Pollack), se envolvem em situações que desperta neles conflitos que já existiam, mas precisavam de um motivo para entrar no campo da percepção.
Bill é acompanhado durante a festa por duas modelos que fazem questão de deixar claro o interesse delas no médico. O diálogo quente, com flertes nada inocentes, é interrompido quando Bill tem que atender alguém na mansão que está passando mal. Sem ser deixada para trás, Alice dança durante toda a noite com um húngaro, cuja intenção, que não esconde em momento algum, é levar Alice para a cama. Aparentemente se fazendo de difícil, Alice recusa as insistências alegando ser casada.
Alice, Bill e seus acompanhantes na festa já estão alterados pelo álcool. A mundança química aparentemente torna os personagens muito mais afiados na dialética. O raciocínio deles é um fluxo incessante. Assunto algum merece o respeito de ser mantido. A cada possível insinuação ou declaração ambígua, um personagem é retrucado e desafiado. Os diálogos, portanto, como diz a dialética, caminham para o infinito.
As cenas duram o bastante para os personagens se cansarem. Refletindo esse cansaço para o público, Kubrick usa poucos planos, de preferência bem longos. Mais que cansado, o público fica ansioso e desconfortável. A sequência da festa dura quase ela toda. Sabemos quando o tempo é elipsado quando é ressaltado com fusão de planos. A fusão, aparentemente abusiva e excessivamente didática, é mais um recurso para gerar desconforto no público.
A festa acaba e Bill e Alice não consumam seus flertes. Em outro momento, depois de alguns baseados, começam a discutir a relação a partir das antíteses atiradas por Alice às teses de Bill, que jura ser fiel à esposa por amá-la. A síntese parece inalcançável. Alice se ofende por Bill falar que homens se aproximariam dela primeiramente por ser muito bonita. Com o aquecimento da discussão, Alice confessa que teria abandonado Bill e a filha por uma paixão repentina que tivera por um marinheiro. A imagem de Alice com o tal marinheiro o consumirá pelos próximos dois dias, com flashes repentinos.
Bill começa um tour pelas ruas de Nova York a partir de uma visita à casa de um paciente que morreu. A filha do paciente revela estar apaixonada por ele. Bill vaga pela cidade e não consegue transar com uma prostituta ao ter que se apressar a voltar para casa, pois Alice telefona para ele. Encontra um amigo pianista que conta para ele sobre um baile de máscaras misterioso onde tem tocado. Bill anota o endereço e sai atrás da fantasia no início da madrugada, quando as lojas estão fechadas. A partir daí o nível dos fatores é cada vez mais bizarro e surreal, revelando o que há de mais estranho na madrugada de uma cidade ou da perturbada mente de Bill.
As cenas longas, com foco nas atuações (excelentes) e mise en scène, aparentemente um teatro filmado, mostram-se a escolha ideal para tornar a passagem do tempo algo doloroso para a plateia, refletindo o que os personagens sentem. A angústia de um casal que cria para si diversas pseudo-crise que se resolveria com o fim da verdadeira crise, a sexual.
Ambientado em período natalido, vermelho e amarelo predominam. Em contraponto, há sempre uma janela, ou outro emissor de luz, irradiando um azul claro vibrante. O curioso é que essa luz não é nada natural, já que a maioria das cenas é noturna e em ambiente interno. O contraste berrante entre o amarelo alaranjado e o azul, somado ao ambiente interno normalmente lotado de elementos de cena e a composição dos planos já citada, ressalta a ansiedade dos personagens, transferida para o público, além de tornar a atmosfera soturna.
A combinação dos diversos elementos, que beat a beat tiram a história do trilho e despistam o raciocínio de espectador para o que aparentemente ele espera da resolução, tornam a obra um sopro de vitalidade para a filmografia de Kubrick que se encerra aí. O filme passeia por gêneros e estruturas. Quando pensamos que temos que focar nosso raciocínio para desvendar os mistérios de rituais sexuais estranhos praticados por milionários numa mansão, somos trazidos novamente para o drama familiar protagonizado por Kidman e Cruise. E delas somos retirados para pensar se tudo não teria sido loucura, sonho. Os limites da realidade são questionados. A síntese que temos é... sem mais spoiler.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
21:17
0
comentários
Marcadores:
Cinema
sábado, 2 de outubro de 2010
A fraternidade é vermelha
As premissas lançadas em A liberdade é azul e em A igualdade é branca resultaram no A fraternidade é vermelha (Trois Couleurs: Rouge, França, 1994 - 1 h 39 min), filme que encerra a brilhante Trilogia das Cores e a filmografia impecável de Krzysztof Kieslowski, que morreria 2 anos mais tarde do lançamento do mesmo, não realizando a trilogia Heaven-Hell-Purgatory, projeto que viria depois das Cores.
Valentine (Irène Jacob) é modelo. Seu namorado está viajando e mantém contato por telefone. Seus constantes ataques de ciúme a machucam, principalmente pelo fato de ela amá-lo bastante. Distraída com o rádio fora de sintonia, Valentine acaba atropelando uma cadela à noite. Segue o endereço registrado na coleira da cadela e chega à casa de um juiz aposentado (Jean-Louis Trintignan). Misterioso e distante, o juiz pede que Valentine vá embora e que fique com a cadela.
Trazida à casa do juiz em outro momento também pela cadela, que foge até lá, Valentine passa a construir uma relação um tanto original com o juiz. Ambos se escultam e desenvolvem longos e calorosos diálogos durante a película. Os dois, inicialmente solitários, se confortam. Uma relação que aparentemente não aconteceria se Valentine, tão fraterna, não estivesse envolvida.
Inicialmente Valentine havia desprezado o juiz, por descobrir que ele usa um rádio para ouvir conversas por telefone dos vizinhos. Provalvelmente por enxergar no juiz um grande potencial para abandonar aquela atividade que ela julgava como abominável, insiste em tê-lo na sua presença.
Perto do apartamento de Valentine mora Auguste (Jean-Pierre Lorit), que se prepara para uma prova para o cargo de juiz. Além dos livros, Auguste gasta seu tempo com a namorada, que mora ao lado da casa do juiz.
Pequenos atos de Valentine fazem toda a diferença na vida de Auguste. Pouco antes de atropelar a cadela, Valentine assusta Auguste que atravessava a rua destraído, carregando vários livros. Um dos livros cai aberto, Auguste lê a página e aquilo cai na prova para o concurso de juiz. Auguste se torna Juiz.
Quando Valentine acerta numa máquina caça-níquel, alguém passa e profetiza que aquilo não era um bom sinal. Na mesma noite, Auguste flagra a namorada na cama com outro. Temos um plano mostrando a máquina pouco antes de Auguste ter a grande decepção. É a indicação do que seria aquilo que não significava algo bom.
A frustração amorosa de Auguste é igual à que o juiz aposentado, amigo de Valentine, sofreu quando tinha a mesma idade. Auguste vem trilhando vários dos traumas que o juiz aposentado sofreu. Essa construção faz que enxerguemos o futuro de Auguste tão deprimente quando a do outro Juiz. Mas há bastante otimismo para Auguste que pode ter seu destino solitário se encontrar alguém como Valentine (que eventualmente cruza com ele várias vezes, como se o destino conspirasse), alguém que só apareceu muito tarde na vida do outro, nas próprias palavras do personagem de Jean-Louis.
Perco as possibilidades de substantivos e repito no meu texto várias vezes "juiz aposentado" justamente por falta de alternativas. Em momento algum da obra o personagem tem seu nome mencionado. Já não bastasse ser excêntrico (ouvir conversas alheias por um rádio) e tão misterioso. Mas a mitifação do personagem à medida que a trama evolui o coloca em outro nível, o santifica. Ele enxerga tudo de fora e ouvir conversas pelo rádio não soa mais bisbilhotice, mas o coloca no referencial de cima, de Deus.
Os méritos técnicos também não devem ser ignorados. A fotografia, agora de Piotr Sobocinski, é quente pelos tons vermelhos ressaltados. Os planos de Valentine sobre fundo vermelho se tornaram ícones do cinema de Kieslowski. A passagem do tempo, das longas tardes de diálogos entre Valentine e o juiz aposentado, são perfeitamente representadas pela mudança de iluminação suave e gradual.
Na terceira parte da trilogia o ritmo se retarda, os planos, cenas e sequências são mais longos. O período de tempo abordado é menor. Longos trechos do filme representam o tempo real, ou uma tarde inteira em que Valentine conversa com o juiz. É o rítmo de um final grandioso.
Os pontos abertos nas três partes da trilogia foram vapor d'água que carregaram nuvens para uma tempestade assustadora, literalmente. Uma viagem marítima para a Inglaterra põe a bordo Valentine e os protagonistas dos outros dois filmes. O único que continua em terra filme é o juiz aposentado que, da França, não se espanta com a notícia de serem eles os primeiros resgatados do naufrágio do navio que os levava para a Inglaterra. As brisas dos três filmes, todas as ocasionalidades, geraram a tempestade de Vermelho, que encerra a Trilogia das Cores, a carreira (como diretor) de Krzysztof Kieslowski e põe no lugar significados deixados pela Revolução Francesa, desvirtuados pela repetição descontextualizada em boa parte dos livros didáditos.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
18:33
4
comentários
Marcadores:
Cinema
sábado, 25 de setembro de 2010
Impulsividade


Vale mais a empatia que a simpatia. Empático é aquilo com que nos identificamos, onde podemos ver uma extensão de nós mesmos. Personagens empáticos não simpáticos são muito mais valiosos que os agradáveis onde não enxergamos nada de nós. É com os empáticos que um filme submete seu público à cartarse. Impulsividade (Thumbsucker, EUA, 2005 - 1 h 36 min) é recheado de empatia, desde a trilha, as personagens às locações.
Justin Cobb (Lou Taylor Pucci), com seus 17 anos, vive o limbo entre a maturidade e a infância. Isso é metaforizado com o cacoete do garoto de não conseguir parar de chupar o dedo. Seu dentista Perry (Keanu Reeves) aponta a mania de Justin, em primeiro momento, como um substituto para o seio da mãe.
Justin se sente diferente dos que o cercam e, de fato, é um pouco. O ambiente familiar lhe parece instável. Sua mãe (Tilda Swinton) é fascinada por artistas de TV e cinema, mais tarde até trabalhando em uma clínica que recebe esse público. Justin acredita que o fascínio pelos artista é um sinal de ela não estar conformada com a família. O pai de Justin (Vincent D'Onofrio) não é acostumado com a ideia de ser pai e estar envelhecendo, tanto que pede para ser chamado pelos filhos apenas pelo primeiro nome e não de pai.
Justin não consegue se aplicar na escola, tampouco se dá bem com garotas. As coisas mudam quando começa um relacionamento com Rebecca (Kelli Garner) e é diagnosticado (erroneamente) por uma psicóloga como hiperativo. As drogas receitadas a Justin fazem que fique bastante aceso e se torne a estrela nerd da escola, competindo em grupos de debate. Melhor, não são as drogas que fazem isso a Justin, mas ele mesmo ao acreditar nas promessas de melhoras conferidas às drogas pela psicóloga. De tanto insistirem que algo estaria errado com Justin ele acredita que é possível uma melhora, quando nem é preciso mudar.
Os problemas todos que giram em torno de Justin são apenas o ambiente reagindo a ele, que aparentemente não é um ser nativo de onde está. Como o arganismo expulsando um vírus. Justin não cabe em sua família, nem na escola e nem na sua cidade. Ele não tem problemas, patologias mentais, apenas não pertence a onde está. É num segundo momento que o dentista Perry, personagem cômico em que Keanu Reeves se mostra muito mais competente em comédia que em drama, afirma que não há nada de errado com Justin simplesmente por ele chupar dedo, que é algo absolutamente aceitável e normal.
A cidade pequena, a trilha indie (aliás, o filme é indie), protagonista que sofre a transição para a maturidade, o direito juvenil de fazer coisas erradas fazem do filme uma experiência muito agradável. É algo muito puro. Soa como uma memória de bons tempos que vivemos. E essas são de fato as memórias do Justin que afinal sai da cidade. O Justin realizado, se expressando no seu mundo verdadeiro, seria outro filme.
A estrutura totalmente clássica do roteiro também coopera para a pureza do filme. Os personagens tem suas funções muito bem definidas e aparecem nas hora certa para cumprirem seu papel e manterem a história funcionando. O dentista, por exemplo, é o Jedi de Star Wars (exemplo de épico de estrutura clássica). Ele faz o protagonista enxergar aquilo que o bloqueia para que finalmente possa progredir. Nosso herói, Justin, também luta pelo coração de uma princesa e se supera ao conquistar o que almeja. Nada muito novo.
Impulsividade passa por nós como uma brisa agradável, como olhar para um álbum de fotos de nossos melhores tempos. Uma música em tom maior e sem dissonâncias. Justin não é problemático por chupar o dedo e também não encontra resposta definitiva para o porquê de fazer isso. Mas melhor que descobrir o porquê, ele aprende que o truque é viver sem respostas.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
20:52
0
comentários
Marcadores:
Cinema
terça-feira, 21 de setembro de 2010
A igualdade é branca
A Trilogia das Cores fala muito das coisas que nos envolvem mas não percebedos. De vícios tão automáticos que são invisíveis. É sempre com um plano que remeta a isso que começam os três filmes. Em Azul, a roda do carro onde viaja a família de Julie ocupa metade do quadro. No terceiro filme, A Fraternidade é Vermelha, viajamos pelas instalações telefônicas. No segundo filme, A Igualdade é Branca (Trzy Kolory: Bialy, Polônia, 1994 - 1 h 29 min), uma mala é levada por uma esteira rolante de aeroporto.
Nos três casos, os elementos, além de terem um significado maior englobando a sociedade como um todo, referem-se diretamente às personagens da trama. Os símbolos alí colocados se relacionam com o fator ocasional que mudará a vida dos protagonistas. É em um carro que Julie tem a destruição de sua família e é na dificuldade de idioma, nos problemas de fronteira, e viajando em uma mala que Karol Karol (Zbigniew Zamachowski) se vê menosprezado pelo mundo - tal visão lhe dá força para mudar a situação.
Karol, que é polonês, se casou com a francesa Dominique (Julie Delpy). O relacionamento não engrenou e ambos enfrentam o processo de divórcio. No tribunal, na França, ao depor, Karol é interrompido pelo juiz claramente incomodado com sua dificuldade no francês. Todo indivíduo, por mais passivo que seja, tem seu momento de explosão e esse foi o momento de Karol Karol, que retruca para o juiz "Mas aonde está a igualdade? Só porque nao falo francês muito bem o tribunal não quer me ouvir?". A declaração de Karol é fundamental para o direcionamento das questões que nortearão a trama a partir daí. É a premissa central.
Além do idioma, a caracterização do personagem o transforma em um elemento que não está entre os iguais. Na entrada do tribunal, uma pomba defeca em Karol. Ele é maltratado pela sorte. E os problemas (sexuais) com Dominique, bem como sua submissão platônica a ela, o tacham de ingênuo. Essa ingenuidade também o coloca em posição inferior. A missão de Karol é se livrar desses estígmas.
As coisas mudam para Karol quando encontra no metrô outro polonês que o reconhece pela música que toca assoprando um papel (como no pôster acima). A música é do folclore polaco - se identificam por aquilo que lhes confere unidade nacional. Karol volta para a Polônia, para o branco (a neve sempre presente), onde enriquece.
Em Branco, a estrutura é fragmentada, diferente do linear A Liberdade é Azul. Kieslowski antecipa planos do final nos primeiros atos. Os planos que são adiantados de cenas do final são inserido nas cenas (do início) que interferirão no seu destino, no resultado final. Por exemplo, Karol guarda uma moeda de dois francos, uma recordação da França. Em uma cena, Karol joga a moeda para cima e, ao pegá-la novamente, o resultado do cara-ou-coroa fará Karol tomar alguma decisão. Então é inserido um plano de Dominique entrando em um apartamento e acendendo a luz, algo que só acontece no ato final. O porque de Dominique entrar nesse apartamento é respondido pelo resultado do cara-ou-coroa de Karol.
A trama nos entrega as maneiras diversas de se enxergar a igualdade e a falta dela. E a motivação de Karol em cumprir com o que deseja se relaciona no vencimento dos problemas que impedem a plenitude da igualdade. Enriquecer faz de Karol alguém muito mais aceitável. Mas teve que forjar a morte para reacender em Dominique o amor que ela já não sentia. E "morto", Karol não pode se casar. Perante o Estado Karol já não é um igual. Ou seja, lidamos com conceitos que se contradizem e não se realizam em conjunto. A igualdade seria uma utopia.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
13:00
0
comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 19 de setembro de 2010
The Ronin
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
08:56
0
comentários
Marcadores:
Design
sábado, 18 de setembro de 2010
A liberdade é azul
Com o bicentenário da Revolução Francesa e a unificação da Europa para a criação da União Europeia, o diretor polonês Krzystof Kieslowski recebe o convite de fazer o que resultou na Trilogia das Cores. Em três filmes são discutidos os valores pelos quais a Revolução lutou, aplicando-os no contexto da década de 1990.
As três cores que dão nome aos filmes da trilogia são as mesmas da bandeira francesa. No Brasil, o título dos filmes ganhou um anexo: cada um também leva um dos valores que compõem o lema da Revolução. Liberté, egalité e fraternité transformaram Bleu, Blanc, Rouge em A Liberdade é Azul, A igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha, respectivamente. Isso limita um pouco a ideia que podemos extrair dos filmes. É certo que a liberdade é tema de maior destaque em Azul, o que não quer dizer que não será tratado nos outros filmes.
Nos três filmes há cenas que ressaltam a ideia de pessoas diferentes em lugares diferentes pensando a mesma coisa, ou seja, quebra de fronteiras da solidão - tema de maior destaque do terceiro filme. Há coincidências e acasos. Os acasos são essenciais, são o elemento que muda a vida dos personagens.
A Liberdade é Azul (Trois Couleurs: Blue, França, 1993 - 1 h 37 min) anuncia perfeitamente a qualidade que Kielowski se compromete a manter para os outros dois filmes. Julie (Juliette Binoche em sua melhor atuação) tem sua vida completamente mudada por conta de um defeito mecânico no carro, que resulta num acidente que mata seu marido e sua filha. Ela desiste da vida e tenta suicídio, mas volta atrás. Então faz tudo que pode para esquecer a vida que teve com a família. Destrói todas as lembranças, cartas, fotos, muda-se de casa. Restaram as partituras de uma obra que seu marido, músico de fama internacional, compunha para homenagear a unificação da Europa. Olivier (Benoít Régen), amigo de Julie e de seu falecido marido, se empenha em concluir a obra inacabada. Julie também se envolve com o projeto para composição do restante da obra. Esse envolvimento, bem como de Julie com Olivier, constrói novos motivos para a protagonista voltar a ter amor pela vida.
Julie é misteriosa e seus posicionamentos são sempre passivos e ambíguos. É uma personagem minimalista. Apega-se aos detalhes para se desligar da realidade. Isso faz do close um plano recorrente do filme. Na sequência inicial, que termina com o acidente de carro, a mão que brinca com um plástico azul, embalagem de pirulito, é a de Julie. Ela sempre pede o mesmo no café que frequenta: café e uma bola de sorvete. Nesta cena ela imerge uma parte de um cubo de açúcar no café para observar todo o cubo ser embebido de café em alguns segundos. Um dos poucos objetos que guarda do passado em família é um lustre azul que, com um trabalho primoroso do fotógrafo Slavomir Idziak, imprime luzes azuis no rosto de Julie - a memória relutando em ser apagada. Esse excesso de recursos de Julie para se desligar da realidade justifica as raras cenas em que a personagem aparece chorando - o que seria mais normal, diante da tragédia que sofreu. São as ferramentas que ela usa para tentar alcançar a idealizada liberdade: libertar-se do passado.
No ano de lançamento de A liberdade é Azul, 1993, também entrava em cartaz Jurassic Park, de Spielberg. Aproveitando a contemporaneidade das obras, Binoche declara "eu preferia ter feito um dinossauro a ter feito uma dessas pessoas que não se definem". Essas pessoas que não se definem, pois brigam com seus demônios internos, muitas vezes externalizados em cores nos filmes, estão nas três partes da trilogia.
A cor azul no filme, portanto, está sempre ligada ao passado de Julie e/ou suas tentativas de esquecê-lo. E o passado no filme acontece nos minutos iniciais, que abordam a primeira sequência - a do acidente. Nesse momento a fotografia é predominantemente azul. A música inacabada do marido de Julie é o elemento que mais reluta ao esquecimento. Além do uso do azul para evocar a presença do passado, quando Julie é questionada sobre algo mais pesado sobre sua vida com a família, a tela fica em blackout, com o plano próximo enquadrando o rosto de Julie. No momento em que a tela está completamente negra, toca o trecho da obra que Julie decorou. Quando voltamos do blackout, Julie responde à pergunta. Só quando Julie resolve concluir a obra é que temos acesso a outras partes desta.
Valorizando aspectos mínimos da vida e com imagens puras, sem abrir mão de cinema sofisticado, principalmente na fotografia, Kieslowski faz metáfora verdadeira da vida. A Liberdade é Azul é obra completa, bem como os outros filmes. A Trilogia das Cores tem seus significados ressaltados e reiterados quando em conjunto, mas os filmes separados funcionam perfeitamente.
Abaixo pode-se ouvir a música completa que sobreviveu na memória de Julie. Para quem tem medo de spoiler, dê play e apenas escute, pois é a sequência final do filme.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
13:20
0
comentários
Marcadores:
Cinema
quinta-feira, 16 de setembro de 2010
Os Sonhadores

Trinta anos depois de fazer Marlon Brando e Maria Schneider imortais nas quentes e amanteigadas cenas de Último Tango em Paris, Bernardo Bertolucci volta a fazer cinema despido de pudor em Os Sonhadores (The Dreamers, Franca/ Reino Unido/ Itália, 2003 - 1 h 55 min). O diretor volta trinta anos na temática e volta dez a mais para homenagear a Nouvelle Vague. Para dar a dimensão da hiperatividade de uma mente cinéfila jovem, o pano de fundo são os conturbados movimentos estudantis e político do final da década de 1960 e clássicos do cinema são citados como hipertexto ou notas de rodapé.
Matthew (Michael Pitt) é norte-americano e está em Paris para estudar cinema. Frequenta a Cinemateca Francesa, quase morando lá. Henri Langlois, fundador da Cinemateca Francesa e personagem chave para a preservação da memória fílmica feita até então, está sendo deposto pelo governo francês de seus serviços na Cinemateca. Movimento de artistas e estudantes tentam impedir a demissão. Em meio a esses manifestos, Matthew conhece os irmãos gêmeos Isabelle (Eva Green) e Theo (Louis Garrel). Com a viagem dos pais dos gêmeos, Matthew aceita o convite de passar uma temporada no apartamento de Isa e Theo. E é quando os adultos não estão perto para vigiar que as crianças realizam todos os seus impulsos.
Como a navegação na internet, o filme salta de referência a referência, diretor a diretor, atriz a atriz de maneira incessante. Somos guiados pelo raciocínio dos protagonistas que supervalorizam a própria intelectualidade. O ego é tamanho que viver no apartamento (onde quase todo o filme se passa) se torna a grande fuga deles. Criam ali o mundo ideal. A casa da árvore de muitas crianças.
O filme ser locacional (se passar quase todo no apartamento) é, além de caracterização para os personagens, mais uma referência à Nouvelle Vague. Está nesse movimento do cinema francês Acossado e sua cena de cerca de 30 minutos de diálogo no apartamento de Patrícia. Em alguns momentos, a trilha sonora é diretamente importada do filme do Godard. François Truffaut declarou durantes as gravações de Contatos Imediatos de 3º Grau, filme em que trabalhou como ator, "isso sim é um set" quando entrou em um cenário de apartamento, que se contrapunha às locações megalomaníacas do filme do Spielberg. Na Nouvelle Vague, um cenário que chamasse menos atenção que os personagens (exceto nos casos em que a cidade também é personagem) era ideal. Jules e Jim, do Truffaut, é o filme da Nouvelle Vague que inspira uma das temáticas do filme, o menage à trois. Band à Part, do Godard, também influencia, trantando-se ainda do menage. E é com esse último filme que Os Sonhadores cumpre uma bela metalinguagem - Matthew, Theo e Isa quebram o recorde de Franz, Arthur e Odile de atravessar o Louvre correndo no menor tempo possível. Um recorde existente em um filme é quebrado em outro.
O excesso de piadas internas infla o ego daqueles que as intendem. Os ludibria e extrai deles bons elogios. O que mostra o filme, por ora, como tendencioso e maquiado. "Só vê a 'maquiagem' quem é é inteligente", quem não for, verá o filme como ele realmente é. E não é ruim, mas é obra menor no currículo de Bertolucci. Muito dos excessos "intelectuais" do filme são justificados com a desilusão que Matthew sofre em relação a Theo e Isa. Quando o americano enxerga os gêmeos como acrílicos e "sonhadores", ele amadurece e é justamente quando é abandonado. Acorda do sonho. É como dizer que desequilibrar o filme, pesando tudo para o lado de referências intelectuais foi o caminho que encontraram para significar isso como artificial, onírico demais. No mais, enquanto homenagem ao cinema, Os Sonhadores é sim muito bem-vindo.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
13:43
1 comentários
Marcadores:
Cinema
quarta-feira, 15 de setembro de 2010
O grupo Baader Meinhof

A Alemanha pós-Segunda Guerra se vê com situação econômica e política completamente instáveis. Na década de 1960, quando entram em quadro a Guerra do Vietnã, dentre outros, se intensifica neste país tal estado irregular. Isso desperta no povo o surgimento de grupos reacionários, em geral, de guerrilha. A Facção Exército Vermelho (RAF) foi um desses grupos. Fundados em 1970, eram de extrema-esquerda e tinham como objetivo maior combater o imperialismo. Se auto-descreviam como um grupo de guerrilha urbana comunista e anti-imperialista, engajados numa luta armada contra o que definiam como Estado fascista.
O lider da primeira geração da RAF foi Andreas Baader (interpretado no filme por Moritz Bleibtreu). Seu discurso se voltava para a reação. Acreditava que a RAF seria ouvida a medida que fosse "vista". E isso abrange atentandos terroristas.
A jornalista Ulrike Meinhof (Martina Gedeck), famosa pela publicação de textos fortes denunciando regimos políticos no mundo, principalmente na Alemanha, acaba entrando na RAF. Costumava causar barulho apenas com as palavras de seus textos. Baader nao acreditava que o caminho traçado por Ulrike trouxesse os resultados mais eficientes. Já a jornalista, discordava. A entrada de Ulrike permite maior dinâmica na cabeça do grupo. A RAF passava de apenas reacionários para produtores de ideologia. Teoria e prática se misturavam. A RAF ganhava o apelido Baader Meinhof.
O Grupo Baader Meinhof (Der Baader Meinhof Komplex, Alemanha, 2008 - 2 h 30 min) busca situar da maneira mais completa possível a série de eventos que envolveu a RAF. Para isso, em seus 150 minutos, percorre cerca de uma década, inúmeros personagens, várias explosões, manifestos, reuniões, textos verídicos lidos inteiros e ainda aposta na transformação de tudo isso ao longo do tempo. Com as várias possibilidades de interpretação que a obra oferece, justo por elucidar vários caminhos e ser saturada de conteúdo e contextualização histórica, percebe-se a cautela em que tudo foi tratado para o abrandamentos das possíveis polêmicas. Mesmo com todos os esforços, o filme foi recebido com muito barulho, principalmente pelos parentes de vítimas da RAF. Afirmam que a memória foi tão maquiada que muitas vezes se confunde qual ideia final a RAF recebe do filme. O que não é completamente uma mentira.
O filme começa antes da formação do grupo. Em 1967, o Xá do Irã visita Berlim. Grupos estudantis aproveitaram para se manifestarem contra a violação dos direitos humanos que vinham ocorrendo no Irã. A reação dos policias fica fora de controle e acabam agredindo os estudantes. Em um almoço com classe nobre alemã, Ulrike Meinhof aproveita para ler um texto seu recentemente publicado sobre o governo no Irã. As ações paralelas são justapostas na edição. As cenas violentas são fundidas ao texto de Meinhof. São as premissas da formação da RAF.
Na primeira parte do filme, temos a apresentação de todos os personagens chave da primeira geração do grupo. As reuniões libertinas, treinamento inconsequente, discurso liberal, banalização de sexo e violência. O tratamento dos temas direciona para a mitificação, idolatria daqueles indivíduos. São artistas.
As ações do grupo ganham notoriedade por sua dimensão. Explosões. Sequestros. As coisas perdem o controle quando já não sabem de que lado estão. Não era objetivo inicial atacar cidadãos comuns. A falta de planejamento e a impulsividade de Baader levam o grupo a cometer esses deslizes. A repetição exaustiva do que eles propunham faz com que se confundam. Já não sabem o que é liberdade. Lutam por respeito, mas destroem patrimônio público, matam e machucam quem não tem a ver com a situação. No fim do filme há um rastro de sangue e a impressão é que nem os líderes da RAF saberiam explicar a razão dele.
A estrutura pode ser resumida em um primeiro bloco que mostra porque o RAF surgiu e a glamourização dos protagonistas. Um segundo é a saturação de informações - a contextualização. O terceiro ato é quase como um grande epílogo. Ele contradiz o que temos no início. Os ídolos, artistas, superheróis perdem seu brilho, seus superpoderes. Todo glamour anteriormente jogado neles é retirado. Agora eles são fracos, infantis e não tem controle da situação. Os líderes ainda mantém contato na prisão, mas não conseguem se entender nas conversas. A base da instituição que haviam formado é frágil. O grupo finalmente acabar em 1998 já tem seus sintomas indicados no filme, que aborda até meados dos anos 70. A visão final que temos é de ideologias (utópicas) aparentemente corretas que se envenenam entre os atos terroristas. Aqui a RAF perde a razão, diferente do que alguns apontam ver no filme - crendo nele como uma propaganda (positiva) do Grupo Baader Meinhof.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
11:34
1 comentários
Marcadores:
Cinema
quarta-feira, 1 de setembro de 2010
K-Maki
A designer e ilustradora japonesa Kahori Maki tem clientes como Levi's, Chanel, Elle, Vogue e Dazed & Confused. Confira a sequencia de ilustrações Hanako.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
12:26
1 comentários
Marcadores:
Design
Assinar:
Postagens (Atom)