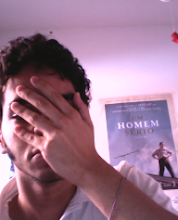segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
Diário
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
18:06
2
comentários
Marcadores:
zas
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
O Rio
Entre novembro e dezembro a mostra "Tsai Ming-Liang: O homem do tempo" passa pelos CCBB São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Me incomodava "o homem do tempo" por achar demasiado genérico para descrever arte, em que o tempo é uma das matérias primas mais recorrentes. Mas acentuar "o tempo" como relevante a ser observado na obra do cineasta de Taiwan é realmente pertinente. As escolhas feitas por Tsai Ming-Liang para contar suas histórias tornam o tempo o responsável pelas ações e as "não ações". Essa dimensão é ressaltada por em seus vinte anos de carreira e nove longa-metragens, de alguma forma, ter o mesmo protagonista e interpretado pelo mesmo ator.
Com obra em diversos aspectos referenciar a Nouvelle Vague francesa de quarenta anos atrás, o curioso uso do protagonista é homenagem a Fraçois Truffault. O francês tem como grande marca ser autobiográfico. Tsai usa Xiao-Kang para dar forma ao que no cinema de Truffault fazia Jean-Piere Léaud, que protagonizou Os Incompreendidos, A Noite Americana, entre outros. Compondo o que se apelidou "segunda Nouvelle Vague de Tawian", Tsai exercita sua autoria e tem a originalidade de sua obra bastante consolidada. O tempo é totalmente dilatado, esticado ao máximo. Para isso, não é a decupagem com planos de curta duração que ressaltem várias perspectivas das ações que Liang atinge o efeito. É justamente pelo contrário: planos que duram muito mais que precisariam para abordar todas as informações (aparentemente) nele contidas. O tempo é muito maior que a trama, muito maior que as personagens. O tempo engole as personagens.
O Rio (He Liu, Taiwan,1997 - 1 h 55 min) é o sexto longa de Tsai e já é trem em movimento para a história de Lee-Kang-Sheng (Xiao-Kang). Mas esse movimento do trem não impede que a viagem seja vista em diferentes momentos do percurso. Todos os longas de Tsai, apesar de trazerem sempre protagonista e cenários que, a princípio, são os mesmo, tem coesão que os tornam obras independentes, mesmo que início e final sejam abertos (o que acontece por outro motivo). E olhar o trem faz pensar que este está parado. Não é à vapor que ele se movimenta - movimento que também não é direcional. Muita coisa acontece nos vagões e nas engrenagens. O Rio abusa do tempo morto para mostrar o que não é concreto. A atmosfera que se compõe incessantemente. Diversos elementos compõe esse nada de uma câmera quase parada filmando quase nada (aparentemente). A saturação que acontece quase se leva tudo em consideração paralisa a narrativa num limbo. Lee cruza com uma (ao que aparenta) ex-namorada numa escada rolante no primeiro plano do filme. O plano simétrico frontal em que de um lado sobe Lee por uma escada e do outro desce a moça, que percebe o rapaz e vai ao encontro dele é o único momento em a vida aparentemente era certa para as personagens. Nossa sensibilidade absorve tudo que nos cerca involuntariamente, motivo que em diversas ocasiões estamos tristes ou felizes sem saber porque. A atmosfera de O Rio absorveu esse acaso para adoecer a vida das personagens. Enfim, uma interferência que tirou o rio do fluxo normal.
Os problemas maiores na vida de Lee começam com um acidente simples de moto que gerou um torcicolo em seu pescoço. A personagem perde completamente o controle da dor que sente e dos movimentos do pescoço. Não ter tomado medidas a tempo aumentam a proporção de seu problema. Lee não dá sorte na busca de um profissional que possa atendê-lo. Para algo aparentemente simples, tratando-se de medicina, diagnosticam Lee de possesso por maus agouros e outras coisas de tal natureza. Os problemas nunca são resolvidos e a narrativa se toma as proporções de uma polifonia dissonante. Os pontos nunca fechados tornam a atmosfera cada vez mais densa e angustiante.
Os longuíssimos planos de Tsai são ricos de informação com o requintado uso da profundidade de campo e do extra-campo. Filmando normalmente em apartamentos ou na casa da família de Lee, Tsai explora os cômodos distantes, para além das portas abertas. Os personagens se deslocam na frente da câmera parada. Saem de campo, ficam no extra-campo por um bom tempo, sem pressa de voltar e, enfim voltam.
Final e início aberto, retomando, são consequencias também do tempo. Tsai faz precisos recortes da vida de suas personagens. Mas esse recorte torna mínima a participação da edição. O objetivo não é necessariamente construir algo que ressalte os aspectos mais interessantes - como na narrativa da ação/reação. O tempo real é o grande valor de Tsai. Esse recorte reconhece que uma vida não começa e nem acaba em duas horas. Por isso o não início e o não final. Tsai é "essencialista", como o comer, beber, tomar banho, fazer sexo, etc. que tanto traz para o seu cinema.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
20:38
0
comentários
Marcadores:
Cinema
segunda-feira, 6 de dezembro de 2010
A rede social
Convencinou-se usar o verbo "navegar" para designar o ato de usar a internet, o ir de página a página, link a link. A não ser que que essa navegação seja em auto mar e numa tempestade, o termo soa muito humilde para o que é o fluxo de informações na rede. Diante de vários caminhos, podemos entrar por todos. Nos fatiamos em vários, divimos nossa atenção ao mesmo tempo em diversas páginas. Colhemos algumas palavras aqui, uma imagem alí e montamos nosso texto, nosso hipertexto. Bem raso se analisando o que eram os textos originais, mas tão denso quanto o novo texto que agora constitui. Assim funciona o mais recente longa de David Fincher (Clube da Luta), que com carreira carregada de vitalidade, após lançar o comum Benjamin Button, tem a regularidade de sua autoria retomada com A Rede Social (The Social Network, EUA, 2010 - 2 h 1 min).
Baseado no polêmico e homônimo livro Ben Mezrich, que revela os bastidores conturbados do surgimento do maior site de... rede social da internet, o Facebook, o filme investe na mesma trama, enriquecendo-a com minuciosidade no tratamento dos personagens e narrativa. Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) é um programador genial que se sente sufocado por Harvard e seu excesso de tradições. Após ser dispensado pela namorada, irritado e bêbado, Mark raqueia páginas de várias garotas da faculdade, baixando suas fotos. Monta uma página de enquete sobre a mais gostosa da Universidade e, numa madrugada, consegue saturar os servidores de Harvard com acessos. O talento agora era público. Mark é convidado por gêmeos ricos para montar o que mais tarde resolveu fazer sozinho, o Facebook. De fato Mark não é exposto no longa como alguém que roubou uma ideia. Ele apenas escolheu entre ser um funcionário e ser o patrão. As grandes ideias vieram realmente dele. Externalizando a criatividade de Mark, em uma cena um colega pergunta ao protagonista se sua ex-namorada está procurando alguém. Surge aí um dos recursos pioneiros do facebook, o status social, não se restringindo a solteiro e casado, mas "à procura", etc.
Os anos decisivos de Mark, aqueles que o tornaram o mais jovem bilionário do mundo, são contados por Fincher numa estrutura que lembra um grandioso portal de internet. Temos várias categorias de assuntos, várias e várias páginas. Perder-se é muito fácil, mas é um risco que todos se dispõe a correr, pois sabem onde está a página home, onde sempre podem voltar e começar de novo. A home de Rede Social são os dois julgamentos dos dois processos que Mark sofre. Um seria baseado na acusação de ter roubado a ideia de construir o Facebook dos gêmeos e a outra é de ter excluído Eduardo Saverin (Andrew Garfield), destacado no filme como o verdadeiro amigo de Mark no meio a vários oportunistas, do expediente de fundação do Facebook e demais prejuízos financeiros que isso acarreta. A medida que argumentos, frustrações, etc. são colocados em pauta no julgamento, o filme sai da home page para a página da qual agora trata, indo e vindo, desconstruindo a linearidade do tempo.
Mark é o filme. Personagem complexo com universo excêntrico. As vezes de caracterização caricatural, Mark pressiona o lábio inferior como quem ainda não se acostumou a viver sem a chupeta e fala bastante acelerado, como que com uma só voz não fosse possível emitir tudo que ele precisa naquela fração de tempo. Tudo isso reforça o quão controverso é Mark que, como o bom gênio, tem a complexidade de mentes experientes num comportamento e curiosidade infantil.
Rede Social é um filme de closes e planos curtos. Não poderia ser contemplativo um filme sobre a geração que aborda e tal universo. Os closes e o ritmo propiciado por isso e a duração dos planos ressalta a adrenalina do hipertexto.
Com muito mais foco para o roteiro verborrágico, A Rede Social tem fotografia sutil mas de escolhas estéticas significativas. O foco é bastante trabalhado, mas, diferente do que normalmente se faz, não é o foco que se desloca para um novo campo focal, mas os personagens que entram no foco. O desfocado é denso, quase um fluído. Entrar em foco é chegar à superfície. E o campo focal é bastante reduzido, mantendo apenas dois níveis possíveis de realidade, um primeiro e segundo plano, descartando gradações entre eles.
A Rede Social é um recorte temporal muito preciso na vida de um personagem verídico (ao menos até onde ele não é ficcionalizado). O roteiro é uma adaptação perfeita, primeiramente da literatura e depois da realidade. As motivações da personagem, mesmo que reais, perfeitas no mundo da ficção são o que tornam a obra tão legítima. Mark começar tudo por vingança da ex-namorada é o primeiro dos vários argumentos que justificam a tamanha inspiração para a criação do Facebook. Argumento não necessariamente tirados da história real, mas que fazem o filme funcionar.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
18:33
0
comentários
Marcadores:
Cinema
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Gil Elvgren
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
09:20
0
comentários
Marcadores:
Design
segunda-feira, 29 de novembro de 2010
O mundo imaginário do Doutor Parnassus
A Fantasia seria o gênero narrativo em que o autor cria um mundo paralelo àquele que convencionamos com real, considerando a existência desse em sua história ou não. Na fantasia novas regras devem ser criadas para a Física, Química, Matemática, Linguística, percepções e demais relações dos seres com seu ambiente e do ambiente com o sistema como um todo. A credibilidade do mundo criado depende essencialmente do rigor que o autor se impõe para não quebrar as regras que criou. Seu público percebe e se incomoda imediatamente quando essa proposta não é cumprida, tornando a trama incoerente. Sim! A fantasia é realista enquanto considera o seu mundo como o real. As coisas acontecem como são - desde que seja assim que acontece no tal mundo.
Já no Fantástico é diferente. Seria algo próximo de um casamento do Surreal com a Fantasia. Regras frágeis aparentemente existem mas são rapidamente quebradas para uma livre associação de ideias. Não há a preocupação com uma "nova legislação" ou demais leis críveis do novo ambiente. O objetivo aqui é o lunático. Jamais o compromisso com a criação de uma nova realidade. Nada pode ser contínuo, equivalente. A incoerência manda. Aparentemente um campo mais seguro para ser trabalhado, já que, aparentemente, não se tem um rigor quanto às regras estabelecidas e, já que a associação dos elementos é livre, pode ser feita como um brainstorm. Mas não. Talvez não seja tão simples alcançar o resultado esperado para o "bom" Fantástico. E é nesse segundo gênero que se encaixa O mundo imaginário do Doutor Parnassus (The Imaginarium of Dr. Parnassus, Inglaterra, 2009 - 2 h 2 min), mais recente filme de Terry Gilliam (Brazil, o Filme).
Parnassus (Christopher Plummer) tem mais de mil anos e tem o dom de levar as pessoas às maravilhas de seu inconsciente através de um espelho falso. Parnassus, para conquistar a imortalidade, acordou com o Diabo (Tom Waits) que lhe entregaria sua filha assim que ela completasse 16 anos. Parnassus só não contava que fosse se apaixonar e realmente acabasse tendo um filha, Valentine (Lily Cole). Às vésperas do décimo sexto aniversário da jovem, Parnassus, junto com sua equipe que compôe a companhia de circo itinerante - Valentine, Anton (Andrew Garfield), Percy (Verne Troyer) e, de última hora, Tony (Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrel) -, que está a beira do fracasso, devem conseguir algumas almas a serem trocadas pela de Valentine.
Gilliam é infeliz ao construir nos sonhos um universo raso. É multicolorido, com direção de arte impecável, mistura técnicas digitais com plásticas, gerando um resultado único, porém, raso. Os clientes de Parnassus atravessam o espelho para se entregarem à realização de seus desejos. Nada mais conveniente que uma dondoca enxergar sapatos caros gigantescos, uma criança entrar num parque de diversões, etc. É fácil e óbvio.
Visualmente perfeito, O mundo Imaginário investe na direção de arte, figurino e fotografia. A companhia de teatro de Parnassus se assume com visual romântico. Vestes sofisticadas e trabalhadas como no século XVIII. As primeiras imagens do filme nos mostram apenas o grupo de teatro, nos induzindo a ver o filme primeiramente como de época. Quando a câmera se distancia e mostra o palco em ambiente contemporâneo, numa Europa moderna, vemos o quão particular é o universo daquele grupo de teatro. Vivem um mundo restrito em que Valentine sonha lendo sua revista "Lar ideal", que mostra famílias de comercial de margarina, famílias normais (tema explorado de maneira piegas em alguns momentos da obra).
A morte de Ledger no meio das gravações gerou uma das soluções mais criativas e, finalmente, verdadeiramente do Fantástico. Johnny Depp, Jude Law e Colin Farrel se revesam no papel de Tony quando este entra em diferentes momentos no espelho de Parnassus. Como nos sonhos, quando olhamos para um personagem em momentos diferentes e ele assume outro aspecto, Tony muda de intérprete. Gera o esperado efeito lunático do Fantástico.
O mundo imaginário do Doutor Parnassus se pretende Fantástico e usa recursos ilustrativos de significante nada subjetivo. Cai em diversas vezes na estética publicitária e ainda sofre com um roteiro que nunca engrena. Mas não é de todo perdido. Há momentos realmente bons, de humor fino, ao melhor que o diretor de Monty Python em busca do cálice sagrado já produziu. O filme tem seu valor, ainda que menor, na filmografia de Terry Gilliam.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
10:43
2
comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 28 de novembro de 2010
Drew Struzan
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
15:54
0
comentários
domingo, 14 de novembro de 2010
E o vento levou
Victor Fleming é creditado como diretor de E o Vento Levou (Gone with the wind, EUA, 1939 - 3 h 53 min), filme mais assistido nos cinemas de todos os tempos. Não só é creditado como levou o Oscar por isso. Mas vale ressaltar que o grande por trás da obra é o produtor David O. Selnick, responsável pelas ideias mais importantes e também pela edição. Foi dele o papel de manter coeso (ou tentar) um filme dirigido por George Cukor, Victor Fleming (que dirigiu menos da metade do longa), Sam Wood e William Cameron Menzies (que levou um Oscar honorário).
Não é estranho que o filme de maior sucesso de público seja um melodrama, gênero que abusa de recursos de apelo universal para abordar maior público. Busca-se estabelecer empatia com o maior número de pessoas. E o Vento Levou é muito bem sucedido quanto as suas estratégias comerciais. Trás personagens femininos e masculinos marcantes e em suas quase 4 horas de duração todos os arquétipos possíveis (em sua maioria, carismáticos) já contracenaram com Scarlett e Rett.
Fugindo, aparentemente, dos estereótipos do malvado e bonzinho para a trama principal (que é o dilema amoroso de Scarlett O’hara), Vento Levou concentra a dicotomia entre bem e mal na Guerra de Secessão. O bem estaria para os sulistas, que é o ponto de vista dos personagens. Eles quem passam fome, morrem, perdem a dignidade, e outras mazelas acontecem por conta da maldade dos nortistas – segundo o filme.
Com a guerra como background e várias camadas, em todos os níveis, de conflitos amorosos e familiares, E o Vento Levou constrói a atmosfera para todo o exagero sentimental que o caracteriza. Os personagens, dentro desse universo, estão sujeitos às diversas armadilhas do destino. A guerra por si só já eleva as desgraças da trama ao limite. Mortes, fome, destruição. E a guerra também refletirá na estabilidade de instituições, como a família. É com a desestruturação de sua família refletida pela guerra que Scarlett (Vivien Leigh) se envolverá em outros problemas e também terá sua visão de mundo alterada.
Muitas obras melodramáticas pecam quanto seus objetivos. Querem lucrar e abordar o maior público. Para isso, o recurso mais eficiente são os personagens. O comum do melodrama já foi explorar o personagem que é absolutamente mal e o absolutamente bom. Mas não há empatia se na verdade não é assim que acontece na vida real. E O Vento Levou acerta nisso ao entregar para personagens secundários o papel de bonzinhos ou mauzinhos. Os protagonistas são anti-heróis. Eles tem defeitos, flutuam entre o bom e o mal caráter e, acima de tudo, são carismáticos.
Não muito distante de uma Ópera, E o Vento Levou ainda preserva o Overture e Interlúdio. Recursos que não sobrevivem no cinema, por serem muito mais adequados para eventos “não-projetáveis”, como os que acontecem num teatro. E é da ópera que o filme tira muitas características.
Feliz é a elite sulista. Ostentam riqueza e sua vaidade faz que as ruas sejam desfiles de moda e as casas sejam as mais luxuosas. Scarlett é uma adolescente cobiçada por todos os rapazes, para inveja das outras da sua idade. Mas Scarlett só tem olhos para Ashley (Leslie Howard). O equilíbrio de Scarlett é rompido quando Ashley declara que vai se casar com outra. O equilíbrio do filme também é quebrado e, partindo para uma macroestrutura, eclode a Guerra de Secessão. O conflito do filme não é algo que acontece apenas na vida da protagonista, com a Guerra, o caos é generalizado.
Scarlett é movida por seu orgulho a não desistir de Ashley. Para provocá-lo, se casa com seu irmão, que morre na guerra. O’Hara desenvolve os planos mais absurdos para tentar recuperar seu amor, enquanto Sul e Norte lutam, com vantagem para o Norte.
Surge Rett (Clark Gable) na vida de Scarlett, mas este não apaga Ashley da mente dela.
Com diversas oportunidades desperdiçadas para a verdadeira felicidade, justamente por estar cega pela sua vontade compulsiva de ser a esposa de Ashley, O’Hara espalha desequilíbrio para vidas alheias. Casa-se com o grande amor de uma de suas irmãs por dinheiro. Viúva duas vezes. Ignora o amor de Rett, magoa-o.
Quando Scarlett se dá conta de que ama Rett e que Ashley seria um capricho, que é justamente quando amadurece, já havia atropelado tanto Rett que este também não a quer mais. Scarlett termina sozinha, colhendo o que plantou. Mas o filme não é pessimista por a personagem mostrar que tem toda a energia para correr atrás e consertar alguns de seus erros.
Não é mérito tão grande do filme ele durar quatro horas e não ter maiores problemas de ritmo e narrativa, já que é tudo muito simples. A história é linear e não há ousadia em sua maneira de narrar. São escolhas fáceis.
Um dos primeiros longas totalmente colorido, E o Vento Levou já explora bastante a nova linguagem. O plano de O’Hara prometendo para si mesma nunca mais passar fome no final da primeira parte não seria ontológico sem os diversos tons alaranjados e vermelhos conseguidos no belo pôr-do-sol filmado. E esse é um plano geral, tipo de plano bastante explorado no filme.
O plano geral reforça a paisagem e a megalomania dos cenários. Em E o Vento levou destacam-se ainda os planos dos vários enfermos da guerra deitados no chão e a pequena carruagem com O’Hara e outros fugindo de um bombardeio e um galpão gigantesco pega fogo. Esse galpão é parte dos cenários de King Kong.
A trilha sonora é de Max Steiner, considerado o pai da música incidental cinematográfica. A trilha de cinema na década de 1930 ainda não era completamente legítima do cinema. Muito herdava da ópera e do incidentalismo do teatro. Era uma música grandiloquente, diferente de esforços do cinema contemporâneo em fazê-la diversas vezes invisível. Mas essa dimensão da música também era destacada no melodrama. Rousseau define o melodrama (da ópera) como um procedimento onde a fala e a música, em vez de andarem juntas se alternam, quando uma frase musical anuncia e prepara a frase falada. Se a declaração de Rousseau fosse feita para o melodrama do cinema, também estaria coerente.
Assim como a música do cinema, atuações ainda estavam longe de tempos de Marlon Brando. As atuações são exageradas, como se os atores estivessem num palco. Não se pensava no naturalismo para câmera.
Longe de obra-prima, E o vento levou permanece como incógnita. O que seria tão atrativo na obra de maior público de todos os tempos? Aqui não achamos a resposta, mas muitas premissas foram incentivadas para reflexão.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
17:59
1 comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 7 de novembro de 2010
La Teta Asustada

Aqui não vamos nos referir a esse filme como "O leite da amargura", pois é uma adaptação brasileira muito nonsense do título de La Teta Asustada (Idem, Peru, 2009 - 1 h 35 min). O título original se refere a um elemento, uma temática do filme, que de alguma forma rodeia todas as (várias) outras. Se um filme recebe o título "Forrest Gump" e é esse o nome do protagonista, provavelmente esse título foi escolhido assim para demonstrar que na obra a constituição desse personagem é um dos aspectos mais relevantes. O que, consequentemente, quer dizer que é imbecil aquele que acrescentou "O contador de histórias", na versão do título aqui no Brasil. La teta asustada é apenas o nome de uma pseudo doença que a protagonista carrega e que, por ser pseudo, gera várias situações verdadeiramente desconfortáveis. Porque os peruanos tem direito a um título inteligente e aqui os destribuidores duvidaram de nossa capacidade?
Então... sobre o filme.
Fausta (Magaly Solier) acredita sofrer da doença Teta asustada, que seria transmitida pelo medo e sofrimento da mãe no momento da amamentação. A mãe de Fausta teria sido estuprada por terroristas na década de 80, momento político difícil no Peru. Teta asustada não passa de uma resposta folclórica/mitológica para doenças que provavelmente tem significado científico. Um médico tenta orientar Fausta para o que realmente sofre (seu nariz sangra quando perde o controle de uma situação ou sente medo), mas a fidelidade às crenças do povo peruano, ainda de tradição bastante indígena, a impede de ouvir ao médico. Com medo de ser estuprada, Fausta insere uma batata na vagina, o que gera outro problema - a batata "germina".
O último pedido da mãe de Fausta antes de morrer foi ser enterrada em sua cidade natal. Agora a missão de Fausta é conseguir o dinheiro necessário para a viagem. Fausta, bastante tímida e introspectiva, terá que se expor ao mundo e tomar decisões sozinha para juntar o dinheiro.
A introspecção de Fausta é o que há de mais recorrente no filme. A construção da personagem recebeu uma atenção maior. Sozinha no mundo, ainda mais agora sem a mãe, Fausta não fala muto nem se envolve com outras pessoas a não ser que precise. Para fugir de nosso mundo, o qual ela aparentemente o tempo todo demonstra não estar a vontade, Fausta canta (em quechua - idioma indígena). Compõe as belas melodias enquanto quanta. Um jazz peruano (péssima piada).
Fausta não age muito, é passiva. Segue quase sempre o fluxo das situações. Assim ela acaba se envolvendo em problemas que não precisaria. Seu estado quase sempre é de imobilidade, medo. Prefere não se arriscar e correr o risco de piorar as coisas.
Os movimentos de Fausta para mudar o que a aflinge são mínimos e minimalista é a estética adotada pela diretora Claudia Llosa para representar o universo de sua protagonista. Sem iluminação especial, aproveitando o melhor da luz natural, La Teta Asustada é filmado com baixa saturação de cores. Atinge assim uma frieza para as imagens equivalente ao distanciamento da personagem para a realidade. A decupagem dos planos é meticulosa. Sutilezas são buscadas através de muitos planos de detalhe.
La Teta Asustada é simples. É resultado de escolhas aparentemente pequenas, mas extremamente simbólicas para o resultado final. É uma narrativa sobre nosso tempo e sobre a Fausta que há dentro de nós, viva e cheia de medo.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
12:32
0
comentários
Marcadores:
Cinema
domingo, 31 de outubro de 2010
Autumn Whitehurst
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
08:42
0
comentários
Marcadores:
Design
segunda-feira, 18 de outubro de 2010
Tropa de Elite 2
 É com flashes de cenas do primeiro filme misturados aos créditos que começa Tropa de Elite 2 (Brasil, 2010, 1 h 56 min). A lembrança de sucesso da primeira franquia serve para aquecer o público sedento para ver agora muito do que viu em 2007, quando Padilha surgiu para o mundo com sua distribuição excêntrica "acidental" de Tropa de Elite, através de uma suposta cópia vazada do filme ainda não concluído.
É com flashes de cenas do primeiro filme misturados aos créditos que começa Tropa de Elite 2 (Brasil, 2010, 1 h 56 min). A lembrança de sucesso da primeira franquia serve para aquecer o público sedento para ver agora muito do que viu em 2007, quando Padilha surgiu para o mundo com sua distribuição excêntrica "acidental" de Tropa de Elite, através de uma suposta cópia vazada do filme ainda não concluído.Tropa de Elite parou o país em 2007 e jargões sobreviveram durante muito tempo na boca de pessoas de todas as idades. "Pede pra sair" e outras expressões do Capitão Nascimento (Wagner Moura) estão também no segundo filme, marcando Wagner Moura para sempre com o personagem caricato.
Não se mexe (muito) em time que está ganhando. É assim que fazem aqui - repetem os personagens, jargões, violência e estrutura. Tropa de Elite 2 também começa com uma cena do final interrompida em momento dramático, quando a plateia está com o coração na boca. Dessa cena somos cortados para alguns anos antes. Então começa a parte chata. O primeiro sinal é o "blá blá O sistema blá" da narração em off do capitão nascimento. O filme vai e volta, fade in, fade out, fusão e o Capitão Nascimento não cala a boca. É a voz de Deus. Como um documentário precário que só acontece na edição e, para compensar a falta de criatividade, amarram tudo com uma narração em off.
O Capitão Nascimento narra o que está em cena e o que não está. Comenta, debate, anuncia e expõe suas ideias. Discute o filme. Quase um programa de televisão, onde normalmente não se deixa o espaço para que o espectador complete a obra com sua interpretação. Tropa já veio mastigado.
Mas Tropa precisa desse narrador pra costurar a narrativa? Não. Há um grande diretor e um grande roteirista por trás. Eles sabem bem como criar uma narrativa sólida. Bráulio Montovani fez isso muito bem nos roteiros de Cidade de Deus e Linha de Passe e igualmente para Padilha em Ônibus 174. O truque é um artifício para deixar o filme mais evento do que é. Tropa de Elite é feito para esse momento, para a bilheteria. Não sobreviverá ao tempo. O filme deixa o público de queixo caído pelo impacto das cenas (violentas). Esse impacto só vale para a primeira vez que é visto, enquanto é surpresa. Em um segundo momento, quando já sabemos que não seremos surpreendidos, qualquer um pode enxergar o filme por detrás dessa fachada de sangue.
Muitas cenas e sequências são anexos que não acrescentam na história. Um roteiro ainda em brainstorm. "Padilha! Já pensou colocarmos uma cena com defuntos queimados?", fala Montovani - "Ótimo! Que tal uma jornalista curiosa querendo a capa do jornal e seu fotógrafo medroso?" - responde Padilha muito contente. Assim nasce uma sequência violenta.
A narração em off também é recurso para um outro grande propósito do filme, levantar bandeirinha. A narração está justamente ocupando os espaços que deveriam ser o silêncio, a reflexão. Acusar a hipocrisia social e deficiências políticas do país em vários momentos é nobre, já em outros (vários) nem tanto. Levantar bandeira não é saudável tratando-se de arte. É perigoso e o poder de subversão é grande. No filme, ideias generalizante e superficiais como a Academia ser composta de almofadinhas e bandido bom é bandido morto são algumas das defendidas. O pragmatismo extremo é pregado. Mas lidar com humanos não é algo tão pragmático como chegar a resultados matemáticos, como gostaria o Capitão Nascimento. O papel do BOPE no final das contas parece sempre estar cortando unhas sociais. E unhas crescem novamente.
O visual do filme é mais interessante. A fotografia demonstra um desleixo inicial na fase de gravação. Algo proposital. Luz estouranda e cores erradas. Esses "defeitos" no momento de gravação receberam tratamento em pós produção, cujo resultado é um rebuscado bem finalizado. A estética do documentário (fotografia desleixada) somada à finalização de longa de ficção. Nos momentos em que o Capitão Nascimento se encontra com a ex-mulher, supercloses com uma câmera nervosa são usados e o background é completamente desfocado. O que também é interessante.
Outro mérito é a caracterização de personagens. Muitos aí são memoráveis. Além do Capitão Nascimento, vindo do primeiro filme, agora também temos Deputado Fortunato (André Mattos), em uma clara homenagem ao "jornalista" Datena. Mitificar personagens assim é recurso dos filmes de máfia de Hollywood. Esse glamour aos personagens não é dado à violência - outro ponto! Na vida real, o bandido não segura a vítima 10 minutos para a polícia chegar, vencer e sobrar a mensagem "o crime não compensa", como fazem os americanos. Se a intenção é matar, que seja de uma vez.
Tropa de Elite é um filme evento, cujo potencial de muitos profissionais talentosos envolvidos foi colocado em segundo plano para uma certeza de sucesso. O comercial não é sinônimo de ruim, mas há muito mais áreas comerciais cuja garantia de sucesso compromete a qualidade do filme. Foi aí que preferiram explorar. Por fim, a pedância do discurso construído no novo longa de Padilha faz concluir que se Michael Moore tivesse feito um longa de ficção, provavelmente teria sido Tropa de Elite 2.
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Postado por
Maurício Chades
às
20:59
1 comentários
Marcadores:
Cinema
Assinar:
Postagens (Atom)