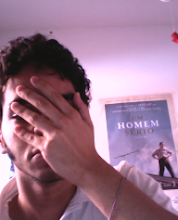História, imagem, movimento
Muito fácil estabelecer métodos e esperar que eles sejam eternos. Os meios mudam e temos que nos adaptar a eles. É essencial para a evolução. A história teve longa vida enquanto campo de conhecimento cuja escrita era atividade principal. Mas as palavras não são a história. Elas foram a solução encontrada pelos historiadores pare reproduzir sua produção, não são o “conteúdo em si”, mas apenas um meio. Certamente há outros caminhos que possibilitem o registro da história.
A história também pode ser contada por imagens e sons. Essa é a abordagem que trago para a discussão. Observando a história da História, é perceptível a flexibilização que sofreu. A abordagem é cada vez mais ampla e várias regras não resistiram ao tempo. O estruturalismo cai por terra enquanto único viés possível. Observavam os acontecimentos de longe, com recortes de tempo significativamente largos. Algo que não precisava de ciência própria para seu estudo. Era preciso ser mais específica. Surge então a micro-história e a biografia comum também passa a ser objeto de estudo. Pequenos grupos de pessoas, um indivíduo e suas atividades, tudo contribui para os acontecimentos históricos. A micro-história se aproxima bastante da estrutura da literatura, mas se mantém particular enquanto exige fontes.
A ideia de verdade passa a ser também bastante subjetiva. Ao perceber que uma série de questões levam o indivíduo a fazer um recorte necessariamente pessoal acerca de vários fatores, não é mais a verdade absoluta o objetivo buscado por historiadores. O historiador constrói a história. Ele tem também uma visão de mundo a oferecer. Seguindo influências, o documento ser verdadeiro não o torna melhor que um falso. Saber o porque da falsificação do documento também é história.
Se um cineasta se engaja na construção de um recorte do tempo, imerge na leitura de documentos e desenvolve sua obra, um filme de abordagem histórica, não estaria ele construindo história e, consequentemente, sendo um historiador? A maioria dos filmes de abordagem histórica, principalmente hollywoodianos, tem a estrutura de micro-história adaptada para imagens. Se já não é o mais importante a fidelidade (pois essa é subjetiva) e a narrativa já foi aceita na micro-história, uma obra com densidade naquele universo temporal que retrata não poderia ser considerado fruto da História?
Além de poder trazer aquilo que já trazia o texto, que é o relato dos eventos, o cinema pode proporcionar a experiência. Tal recurso é arma que evidencia as limitações de palavras cruas. Mesmo um público intelectualmente preparado para ver um filme, sabendo que todos os fatos ali são ficcionalizados, ao imergirem na obra, ao chorarem com os personagens, eles acreditam naquilo e esse passa a ser seu referencial, ao menos emotivo, para quando estudarem a abordagem trazida no filme.
Acima de tudo, o que dever ser reconhecido é o potencial da linguagem cinematográfica enquanto construtora da história tão eficiente quanto a escrita. Há filmes de abordagem histórica bem realizada e outros não, o mesmo vale para livros e artigos.
O objeto aqui analisado será Outubro, filme do cineasta russo Sergei Eiseinstein. É uma leitura da Revolução Russa de 1917. Eiseinstein é reconhecido por suas imensas contribuições para a linguagem cinematográfica. Ele fala quase tudo apenas com as imagens. É essa pureza imagética que tentarei aproximar como tão poderosa quanto o texto histórico.
Outubro – os dez dias que abalaram o mundo
Einseinstein e a Vanguarda Russa
 |
| Eiseinstein e seu cabelo bonito |
“A atração tal como a concebemos é todo o fato mostrado, conhecido e verificado, concebido como uma pressão produzindo um efeito determinado sobre a atenção e a emotividade do espectador e combinado a outros fatos possuindo a propriedade de condensar a sua emoção em tal ou tal direção ditada pelos objetivos do espetáculo. Deste ponto de vista, o filme não pode contentar-se simplesmente em apresentar, em mostrar os acontecimentos, ele é também uma seleção tendenciosa desses acontecimentos, a sua confrontação, libertos das tarefas extremamente ligadas ao tema, e realizando, em conformidade com o objeto ideológico do conjunto, um trabalho adequado ao público”.
(Eiseinstein)
Eiseinstein inicialmente estuda engenharia e mais tarde conhece a arte, primeiramente com ilustração, depois o teatro e finalmente o cinema. Foi assistente de Kuleshov. Em 1918, então com 20 anos, Serguei Eiseinstein alista-se no Exército Vermelho e participa da Guerra Civil. Como isso percebemos seu posicionamento político.
 |
| O Suprematismo Russo e o traço que pudesse chegar a todos |
|
A arte sempre foi valorizada desde os primeiras vitórias obtidas pelos bolcheviques na Revolução. Criou-se o Prolekult (“Proletarskaia Kultura”- cultura proletária) onde se fomentou a importância da arte ideologicamente engajada na formação de uma unidade nacional. Ela Foi considerada o mais importante instrumento das forças de classe. É na disseminação de tais pensamentos que surge nas artes plásticas o Suprematismo Russo e, no cinema, a Vanguarda Russa. Alem de Eiseinstein, foram importantes cineastas soviéticos Pudovkin e Vertov.
Sobre o uso da arte engajada, Lênin declara:
“Gosto mais da criação de duas ou três escolas primárias em aldeias perdidas que da mais bela obra de qualquer exposição. A elevação do nível cultural das massas criará uma base sã e sólida às forças poderosas, inesgotáveis, que assegurarão o desenvolvimento da arte, da ciência e da técnica. O desejo de criar cultura e de a propagar é, aqui, extremamente forte. Mas é preciso reconhecer que, ao mesmo tempo, há quem se apaixone demasiado pela experimentação; ao lado de coisas sérias despendem-se muitos esforços e meios com futilidades”.
De tais palavras percebemos que o objetivo não voltava-se apenas para a produção de ferramentas de domínio da massa. Apostavam na intelectualização artística de todos, assim poderiam consumir uma arte de vanguarda ao mesmo tempo que se fortificava a unidade nacional.
Outubro – entre a propaganda e a estética
As palavras de Eiseinstein reproduzidas no início da página anterior se referem ao inovador método de montagem que criou: a montagem dialética ou montagem intelectual.Ao isolarmos as palavras socialismo e dialética podemos pensar em possíveis inferências com a dialética marxista? Sim. Arte e política se encontrando novamente. A ideia era que a soma de um plano com outro gera uma impressão que não era resultado da soma, mas algo diferente. É dizer que A + B não é igual a AB. Tese e antítese ao se confrontarem geram uma síntese, que é algo novo e maior que a mera soma das duas partes.
Importante destacar na citação de Eiseinstein “o filme não pode contentar-se simplesmente em apresentar, em mostrar os acontecimentos, ele é também uma seleção tendenciosa desses acontecimentos”. Qualquer filme ou obra feita por um humano terá um posicionamento definido. Mas ao falar isso, Eiseinstein nos explica o cinema de propaganda.
Eiseinstein foi um grande intelectual, sendo um dos mais importantes teóricos do cinema. Sua obra acadêmica é tão importante quanto sua filmografia. Ao fazer Outubro e ser acusado por muitos de não explorar densamente a realidade dos fatos é subestimar tudo o que ele já havia feito academicamente, alem de sua obra cinematográfica. Ele já havia provado que a pesquisa intensa fazia parte de sua rotina. Procede à realização de Outubro o desenterrar de muitos documentos, análise de livros e artigos de diversos jornais, alem de visitas a fábricas e entrevistas com ativistas do Partido que vivenciaram o ocorrido.
Para reforçar a repulsa de muitos “intelectuais” à importância de Outubro na construção da memória sobre a Revolução, Eiseinstein é extremamente estético, metafórico. Seus recursos visuais são antinaturalistas. Momentos marcantes são a destruição da estátua do czar representando a tomada do poder, a cena do pavão contrapondo-se à cena de líderes entrando numa sala de reuniões, etc. Seria fácil dizer que usa a forma em detrimento do conteúdo. Mas sua montagem dialética, que não é apenas estética, está propondo a construção de conteúdo.
É certo que Outubro diverge de forma relativa daqueles fatos que se convencionaram como os verdadeiros sobre a Revolução. Mas sua importância está mais no estudo do imaginário que um partido quis construir de si mesmo para seu povo, exigindo o ocultamento de um ou outro evento.
Outubro foi um dos dez filmes destinados à comemoração de dez anos da Revolução de 1917. O roteiro inicial sofreu forte censura, para desgosto de Eiseinstein, principalmente nas partes do filme onde aparecia Trotski. Em 1927 Trotski é expulso do Partido. O destaque deveria se voltar para a exaltação de Stalin. Os feitos do partido de Lênin foram minimizados. Eiseinstein exalta heróis aqueles que lhe foram solicitados, cria mitos. A Revolução vira um grande drama, com personagens que se destacam pouco na multidão, apenas de maneira pontual, como numa narrativa histórica escrita. O espírito entre os proletários é de irmandade utópica. Outubro é um verdadeiro épico. Isso para desgosto de alguns historiadores. Mais que promover a integração das massas à arte, a integravam à história – mesmo que de maneira declaradamente manipulada.
“Uma obra como outubro revela claramente que está construindo, mais que refletindo, uma visão específica do passado”.
(ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes Os filmes na história)
Em uma crise epstemológica a história alberga a biografia comum e cria sua micro-história. Pode ser visto como a maneira que encontrou para sobreviver, mas isso nada mais é que uma adaptação. Com o surgimento da TV, imaginou-se o fim da rádio e do cinema. Isso não aconteceu. Cada meio tem sua função e permanece vivo enquanto for demandado. As mudanças são naturais. Estagnação pressupõe falta de vida. A historia e o cinema estão vivos e em pleno processo de adaptação, construção.
A historia acaba recusando o cinema mais pelo que já foi feito do que por seu potencial midiático em si. Seria muito ignorante não aceitar o que as técnicas e linguagem que o cinema tem a oferecer para a construção da narrativa histórica. Mas também não devemos ser duros quando algumas obras usam o pretexto de contexto histórico apenas como vaidade (que não é o caso de Outubro). É de pleno direito da ficção usar elementos do passado como quiser, desde que se assuma como ficção e, a princípio, não deve ser criticada por isso. Em que pese que a leitura imagética e sonora, por nos proporcionar a vivencia, seja muito mais crível que uma narrativa exclusivamente escrita.
“Se nenhum cineasta quis reivindicar o titulo de historiador, talvez seja porque eles, tanto quanto o público e os estudiosos, aceitaram por aculturação as noções tradicionais de historia como discurso escrito. Resenhas de filmes na imprensa sempre indicam aos diretores os fortes limites traçados pela cultura entre o que pode ser chamado de história ‘propriamente dita’ e o filme dramático”.
(ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes Os filmes na história)
Talvez não devamos mais brigar pelo que é campo de estudo de um ou outro. A convergência, em alguns aspectos, é inevitável e não necessariamente ruim. A mudança sempre amedronta, mas a adaptação está aí para manter muita coisa viva.